











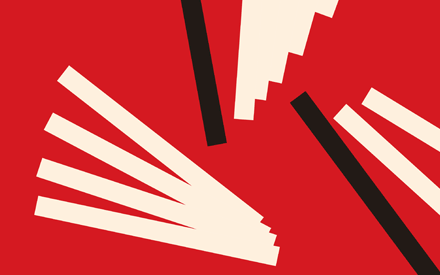





























Peças
trilha sonora- Apresentação
- apresentação
- apresentação
- ficha técnica
- críticas
- textos dos criadores
- ficha técnica
- – Inquérito
- Apresentação
- Apresentação
- Apresentação
- Apresentação
- apresentação
- críticas
- – O Todo E As Partes
- Textos dos Criadores
- Textos dos criadores
- Textos dos criadores
- Textos dos criadores
- Daniel Veronese
- – Parada Serpentina
- Críticas
- Críticas
- Críticas
- Críticas
- encontro tátil
- trajetória
- – Maré
- Ficha Técnica
- Ficha Técnica
- Ficha Técnica
- Ficha Técnica
- críticas
- Trajetória
- Trajetória
- Trajetória
- Trajetória
- ficha técnica
- Trajetória
- críticas
- ficha técnica
- trajetória
:: texto de Assis Benevenuto, direção de Marcelo Castro
:: com Alexandre de Sena, Gabriela Luiza, Gláucia Vandeveld, Gustavo Bones, Lira Ribas e Raysner de Paula
Um grupo de alunos troca ideias sobre suas vidas e projeta o futuro enquanto mata aulas no auditório abandonado do colégio. No final do ano, pais e professores se juntam aos estudantes na esperada Feira de Ciências. Insatisfeitos com seus destinos, os adolescentes preparam uma apresentação capaz de questionar as imagens que representam e abalar as instituições que os rodeiam. O sexto espetáculo marca o início da segunda década de vida do Espanca!. Dente de Leão é aquela flor branca e cheia de sementes, pequenos pára-quedas facilmente levados pelo sopro ou pelo vento; mas também é a ferramenta natural usada pelo mamífero carnívoro da família dos felídeos para dilacerar e triturar seus alimentos. Imagem de pura leveza e da força animal, Dente de Leão torna-se um filho.
A peça estreou dia 10 de setembro de 2014, no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já foi vista por aproximadamente 7.600 pessoas em 51 sessões. Fez temporadas em Belo Horizonte e São Paulo; além de festivais em Porto Alegre, Florianópolis, Uberaba e Presidente Prudente. Foi indicada ao prêmio Copasa/Sinparc-BH na categoria Ator Coadjuvante (Gustavo Bones).
:: textos de Diogo Liberano, Marcio Abreu e Roberto Alvim; direção de Gustavo Bones e Marcelo Castro
:: com Alexandre de Sena, Allyson Amaral, Assis Benevenuto Vidigal, Gláucia Vandeveld, Gustavo Bones, Karina Collaço, Leandro Belilo, Marcelo Castro e Michelle Sá
Real é um programa composto por 4 peças de curta duração, criadas a partir de acontecimentos que marcaram a sociedade brasileira recentemente: um linchamento, um atropelamento, um movimento grevista e uma chacina policial. Apresentadas em sequência na mesma noite, estas obras compõem uma espécie de “revista política” sobre o país. Inquérito, de Diogo Liberano, teve a direção de Gustavo Bones. O Todo E As Partes, escrito por Roberto Alvim e dirigido por Eduardo Félix, utiliza princípios do teatro de bonecos. Parada Serpentina partiu de imagens, estudos de movimentos e é fruto da criação coletiva deste elenco. Marcelo Castro é o diretor de Maré, escrito por Márcio Abreu.
Real estreou dia 19 de novembro de 2015 no teatro do Itaú Cultural, em São Paulo, SP. Além da capital paulista, o trabalho também cumpriu temporadas em Belo Horizonte e circulou pelo estado de Santa Catarina, num total de 20 apresentações para cerca de 4.000 espectadores. Sua criação foi selecionada pelo programa Rumos Itaú Cultural 2013-2015.
:: site do processo de criação: espanca.com/real
:: texto: Allan da Rosa e direção de Aline Vila Real
:: com Bremmer Guimarães, Brunno Oliveira, Denise Leal, Igor Leal, Kely de Oliveira, Michelle Sá, Pedro Henrique Pedrosa, Sammer Iêgo Lemos, Soraya Martins
Passaarão é uma peça-manifesto sobre a experiência coletiva vivida por um grupo de artistas na região do Teatro Espanca. Por aqui tem duelo de rimas, cultura de rua, praia da estação, saraus de poesia e carnaval. Tem passeatas, comícios, encontros e reuniões de movimentos. Aqui tem gente que mora na rua, que passa trotando, que vai pras periferias de busão lotado, que sonha com a ampliação do metrô ou que chega pelos trilhos do trem. Aqui tem altas violações de direitos e altas trocas de humanidades, altos conflitos de poder e altos atos de solidariedade, muitas tretas e muitas lutas. PassAarão é um cortejo-bloco sobre essas contradições.
:: site do processo de criação: espanca.com/passaarao
Direção: Aline Vila Real
Dramaturgia: Allan da Rosa
Elenco: Bremmer Guimarães, Brunno Oliveira, Denise Leal, Igor Leal, Kely de Oliveira, Michelle Sá, Pedro Henrique Pedrosa, Sammer Iêgo Lemos, Soraya Martins.
Direção de Movimento: Sérgio Penna
Criação e manipulação de Boneco: Pigmalião Escultura que Mexe
Confecção de Boneco: Pigmalião Escultura que Mexe e integrantes do Núcleo de Criação
Preparação Vocal: Ana Haddad
Figurino: Lira Ribas
Produção: Aristeo Serranegra
Assessoria de Comunicação: A dupla Informação
Projeto Gráfico: 45JJ
Registros Audiovisuais: Pablo Bernardo
Acompanhamento laboratorial: Lorena Braga
Coordenação dos Núcleos de Criação PassaArão:
Encontros provisórios: convívios instáveis, vibrantes e de alto risco: Marcelo Castro e Ana Luiza Santos
A construção do Gigante: Pigmalião Escultura que Mexe
Criatura: Alexandre de Sena, Aline Vila Real e Pablo Bernardo
Eis Aarão – história e diversidade da rua: Gustavo Bones, Fernando Salum e Mirela Persichini
Classificação: Livre
Duração: 120min
PassAarão: uma experiência tateante pela cidade, por Clóvis Domingos e Luciana Romagnolli
Teatro e convívio com a rua, por Joyce Athiê
PassAarão: uma experiência tateante pela cidade
— por Clóvis Domingos e Luciana Romagnolli, no site Horizonte da Cena —
Primeiro espetáculo de rua do Espanca, “PassAarão” acontece como um cortejo pela região central de Belo Horizonte. Carrega no nome o significante da rua Aarão Reis, endereço onde o grupo se estabeleceu em 2009 e, desde então, o aproximou do epicentro das mobilizações políticas na cidade e propiciou o convívio com cidadãos da periferia (em deslocamento) e em situação de rua. Dessa vivência vêm as sementes da criação do novo trabalho, feito com o espaço público e seus ocupantes.
A saída da sala de teatro, em si, já representa um passo significativo na trajetória do grupo, por sua singularidade. Rompe com a estabilidade da configuração frontal palco-plateia que sempre delineou as apresentações do Espanca, e dentro da qual a situação do encontro teatral frequentemente era problematizada por artifícios da atuação e da dramaturgia. Não bastasse o risco de se lançar ao ambiente desprotegido da rua, “PassAarão” tornou-se, ao longo do processo criativo, também uma espécie de incubadora de uma nova geração do grupo, após a saída de Marcelo Castro e o afastamento de Gustavo Bones, os dois remanescentes da primeira formação.
Sob a direção de Aline Vila Real, que antes atuava como produtora e interlocutora dentro do grupo, e com atores de uma geração mais jovem [1], “PassAarão” chega a público como mais um trabalho de reestruturação do Espanca – uma espécie de reinício. O prefixo “re”, aqui, é fundamental, porque ao mesmo tempo em que há todo um elenco renovado (Michelle Sá é a única exceção, atuou em “Real – Teatro de Revista Política”) e Aline estreia como diretora, há também muita continuidade de propósitos e respeito pela história do grupo (como expõe o figurino de Pedro Henrique Pedrosa, do qual pendem panfletos das peças do repertório).
Esta é uma guinada talvez até mais radical (o futuro dirá) do que a conduzida após a saída de Grace Passô, quatro anos atrás, quando tivemos “Dente de Leão” (que pode ser vista como uma peça de transição entre duas fases poéticas) e “Real”, que estabeleceu a aproximação direta com a realidade social inaugurada anteriormente na cena curta “Onde Está o Amarildo?”. O novo espetáculo avança nessa trilha ao se infiltrar na rua e se relacionar corpo a corpo com estruturas concretas e simbólicas da história e do presente de Belo Horizonte.
Falar da história da capital mineira é um ponto de partida importante para uma dramaturgia (assinada por Allan da Rosa) que se constrói pelas relações entre a cidade e seus habitantes, o que também pode ser dito de outra forma: como as relações entre os habitantes e os espaços constroem a cidade. E põe em evidência como as estruturas concretas, a exemplo do metrô, se sustentam em estruturas simbólicas e relacionais, dentre as quais, as relações de classe e raça na exploração da mão-de-obra durante a construção da cidade – e na atualidade.
Há nisso o investimento em redespertar um sentido de pertencimento, que se traduza em responsabilidade pelo espaço público e pelo comum, onde as singularidades possam coexistir fora da lógica do senhor e do escravo ou da exclusão da diferença. E há uma longa distância (histórica, econômica e social) que separa a cidade projetada da cidade de fato praticada e vivenciada. Quando os versos de “Cajuína” (Caetano Veloso) entoados a certa altura pelo elenco nos indagam “Existirmos: a que será que se destina?”, a cidade também se faz sujeito dessa pergunta, a ser respondida a cada dia por gestores e cidadãos diversos.
Nas ranhuras e contrastes de uma cidade feita de “carne e pedra”, como afirma Richard Sennet [2], no trabalho do Espanca, vemos uma cidade polifônica que emerge,seja através das vozes discursivas dos atores-atuantes,seja na própria voz das ruas com seus passantes. E mais: dá-se um embate entre a história considerada oficial e as histórias da vida cotidiana na cidade. A mesma cidade que encanta e abriga, é também uma cidade que “espanca”.
O espetáculo começa num tom de informalidade e certa dispersão. Somos convidados a seguir os atuantes que, como “guias turísticos” de outra cidade a ser descoberta, nos convidam a realizar uma experiência caminhante. O tom das atuações busca certa espontaneidade dos atores, misturados ao público, como se suas vozes se erguessem dessa coletividade que compartilha uma vivência comum de cidade para convocar a atenção a sair da rotina. Nesse entrecruzamento discursivo, parece haver o desejo, por parte da encenação, de se misturar diferentes leituras e apropriações subjetivas dessa história, que não cessa de se escrever por cada cidadão.
Algumas vezes, diante de tantas brincadeiras sobrepostas e cortes recorrentes, torna-se difícil manter a escuta. No processo de maturação do espetáculo, caberia ainda trabalhar a forma de enunciação na alternância entre os textos históricos e subjetivos para que o didatismo não prepondere. Nesse mesmo sentido, a marcação das ordens das falas pode ser suavizada para melhor fluir e conduzir o público em meio à vida pulsante da rua. Especialmente considerando que se busca uma apropriação desse espaço por parte dos atores que contamine os espectadores a se mobilizarem juntos.
Ao se apropriar da singularidade dos locais pelos quais passa, a encenação instala poéticas “site-specific”, nas quais esses espaços se tornam lugares pela força do encontro entre subjetividade, corpo e arquitetura.É o que se dá, por exemplo, quando Igor Leal chega correndo de outro extremo (como uma fuga) para denunciar a violência da homofobia na cidade. Sobre um tabuleiro concreto, a discussão acerca de temática tão fundamental simboliza o destino daqueles que divergem dos padrões estabelecidos e são literalmente destruídos ou colocados “fora do jogo”e do campo social.
Igor dirige seus questionamentos ao público e às pessoas dentro da estação de metrô, criando um momento de suspensão que destitui os passantes de seu anonimato momentâneo, e tenta fazê-los também escutar e se mobilizar, até que descobrimos a presença de outro atuante misturado aos anônimos a aplaudir, solitariamente. Quanto mais sua fala poética, cuja contundência corta na carne, atravessa o espaço de espera do transporte público e se interpõe no caminho daqueles que sobem e descem as escadas na lateral do metrô, mais seus sentidos se propagam para além de nós (espectadores que se deslocaram propositadamente para ver o espetáculo e, consequentemente, estão um pouco mais predispostos a ouvi-lo) até os ouvidos de transeuntes espontâneos e ocasionais, provocando fricções inesperadas com o cotidiano da cidade. Essa é também uma potência contida na presença de Brunno Oliveira na entrada principal da estação do metrô, onde sua fala-depoimento sobre agressões homofóbicas e transfóbicas sofridas se confronta com os trânsitos de uma população que pouco ou nada frequenta os teatros belo-horizontinos – e assim encontra outros públicos.
Carregam também essa força poética e política as palavras proferidas pela atriz Soraya Martins quando preenche de afeto o dado histórico sobre as mortes de trabalhadores negros na construção de Belo Horizonte, ao comparar a dor daquelas perdas não à de alguém que vela antepassados, mas de quem sente a ameaça sobre seus próprios “meninos”. Esse entrelaçamento entre uma história pública e a subjetividade que particulariza as experiências coletivas torna mais sensível a dramaturgia também quando, mais tarde, outra vez na pele de uma mãe negra, descreve como usa o próprio sangue para proteger o filho da polícia. As discussões sobre o sagrado feminino, o racismo e a violência policial, aqui, condensam riqueza metafórica à concretude da vida na periferia.
No percurso da encenação, a visita a uma galeria urbana é ponto forte no jogo proposto entre corpos e edificações para a renovação do olhar sobre o espaço público, pois revela as tatuagens e textos urbanos com os quais os sujeitos se apropriam da epiderme da cidade – e critica a institucionalização da arte atual, vista, por exemplo, no Museu situado na Praça da Estação. Condutora desse trajeto, Denise Lopes Leal encontra o equilíbrio entre as intenções da encenação e a relação com os passantes, com os quais vai estabelecendo conexões provisórias, sempre improvisadas e arriscadas. Pois é isso: eles “passarão” e atravessarão toda a proposta, a cidade não para em função do acontecimento cênico, ela compõe, integra, faz parte. Está viva e em ação.
Os figurinos parecem sugerir a presença de trabalhadores anônimos que constroem diariamente o espaço urbano. Mais do que personagens delineados, os atuantes evocam e encarnam sujeitos cotidianos, com suas “vidas menores” e suas vivências específicas. Esses uniformes destacam os atuantes-condutores de modo a não permitir um embaralhamento entre essas figuras e as pessoas “reais” da cidade, o que poderia ser muito potente para a proposta da encenação. Da maneira como estão caracterizados, parecem buscar menos essa diluição no comum da vida pública compartilhada do que a evidenciação do pertencimento a uma classe social delimitada: o operariado. Assim, o espetáculo assume suas posições de classe, raça e gênero ao lado dos desfavorecidos ou excluídos do corpo social. São estes os que terão voz e visibilidade no traçado pela cidade.
Na saída da Estação Central, os discursos se interrompem para uma subida de costas, criando uma imagem em contra-fluxo e contrastante ao tempo dos passantes. A partir deste ponto, as diferentes apresentações vistas pelos críticos que aqui escrevem proporcionaram experiências distintas. Numa delas, os corpos coreografados deram tônus à encenação ao revelar a pressa cotidiana e o comportamento automatizado nos quais estamos todos comprometidos, além de instaurar uma cena composta por diferentes velocidades e lentidões, num encontro de presenças (dos atuantes e dos usuários do metrô). Na outra, essa qualidade de presença corpórea se dilui, antecipando certa descontinuidade do percurso gerada pela sequência da entrada num bar, onde o fio ficcional cede a um momento de convívio em primeiro plano.
Dentro do bar, a construção dramatúrgica não estrutura o acontecimento, ou seja, não propõe relações entre os sujeitos e o lugar para além do uso habitual, deixa-as soltas, a depender das interações espontâneas, do desejo de tomar uma cerveja ou papear. À sua maneira, esta parada espelha ao fim do trajeto de “Nossa Senhora do Horto” (da Toda Deseo), sem o sentido de finalidade que naquele espetáculo situa a celebração popular como resposta ao moralismo do interior da casa de família (leia crítica aqui). Em “PassAarão”, a ida ao bar não exerce função catártica. Surge no meio do percurso, como mais um ponto de parada da visita guiada (significativo numa cidade em que parte do turismo se organiza em torno da boêmia). Um anticlímax que pode ser considerado como gesto antiespetacular, durante o qual Denise Lopes Leal discretamente planta a busca por um amigo perdido.
Numa das apresentações da temporada de estreia, a violência urbana furou a ficção quando Denise foi parada e revistada por policiais. A segurança aparente do teatro como construção ficcional, mesmo na rua, se desfez: enquanto os policiais a mantinham sob suspeita (a partir de quais indícios ou pressupostos? – nos perguntávamos), algo terrível ameaçava o corpo e a liberdade dela, já não mais garantidas. Uma irrupção do real que seria ecoada, pouco depois, no discurso ficcional de Soraya Martins, mostrando as relações íntimas entre a fabulação da peça e a vida cotidiana naquele espaço público. Quando enfim a atriz foi liberada, a figura diabólica (Bremmer Guimarães) já não tinha como equiparar-se à intimidação recém-testemunhada.
Nessas tantas fricções entre realidade e ficção que permeiam a caminhada da rua Sapucaí à Aarão Reis, a ação política se impõe em forma de manifesto debaixo do viaduto Santa Tereza. O discurso feminista é proferido diretamente para o cenário teatral belo-horizontino, onde mulheres não se sentem seguras nem entre colegas. A gravidade dos fatos, aqui, não abre brecha para a poesia. Em vez disso, incorpora um dos palcos mais importantes das manifestações de resistência na cidade em sua função própria de “megafone” das reivindicações dos oprimidos. Como manifesto, o discurso proferido é da ordem da afirmação, da convocação, da definição. A arte já não se faz campo de abertura de sentidos, mas de tomada de posição.
Poucos passos adiante, encontramos um objeto que se apresenta como síntese das contradições e paixões movidas por “PassAarão”. Imagem única e impactante, de uma beleza inesperada, que representa em imensidão o que nos habituamos a ver feio ou invisível. Num espetáculo-deriva forjado na estética da precariedade, do baixo-orçamento, da composição crua da rua, o que a imaginação artística escolhe reconstruir é o excluído da percepção. Por fim, abre-se o tempo da inversão do olhar para assistirmos ao teatro das ruas, recriando a ação “Ruído” (já realizada por Marcelo Castro).
Ao abandonar o teatro como edifício, como convenção, como lugar seguro, o Espanca! mostra-se interessado em fazer teatro com outras subjetividades, outras concepções de cidade, outros modos de estar junto e de estruturar as relações sociais. Para isso, investiga a rua, sua arquitetura, seus caminhos e sua linguagem, propagando imagens e discursos vistos pelas perspectivas desses outros excluídos das normas sociais.
Tal percurso é movido pela radicalidade dos posicionamentos dos artistas envolvidos, em resposta a um contexto de renovação do fascismo na política partidária e subjetiva. O grupo procura, então, modos de equacionar a ação direta sobre a realidade, de um lado, e, do outro, a poesia que age sobre as sensibilidades para transformar simbolicamente nossas relações. Nos encontros entre esses dois registros, por vezes consegue sobrepor a disputa discursiva em curso em diversas instâncias sociais e instaurar momentos de experiência estética transformadora.
“PassAarão” é ainda um espetáculo tateante, feito de experiências e inexperiências, espantos e diluições. Em sua materialização cênico-urbana, consegue conciliar, na relação dos espectadores com a cidade, uma vivência sensorial e ao mesmo tempo crítica, ainda que suas escolhas espetaculares apresentem ações nas quais predominem a condução do percurso e a discursividade, sem permitir que se criem momentos em que certa vacuidade e uma contemplação mais demorada das paisagens pudessem possibilitar a latência da recepção e uma apreensão até mais minuciosas dos espaços, tanto do ponto de vista geográfico como social, ou a emergência de questões outras e diversas de acordo com o público participante a cada encontro, o que ampliaria ainda mais a condição coletiva do trabalho.
Essa deriva algo estranha ao que se compreendia até então pelo teatro do Espanca! mostra-se como sinal dos tempos e seu imperativo de renovação, de encontrar novos caminhos e novos sentidos. De desaprendizagem do que foi naturalizado para melhor agirmos. De rompermos as identificações a velhos padrões excludentes para libertar novos sujeitos sociais e convocar suas ações a transformar o espaço comum da cidade.
*Apresentações vistas na temporada de estreia, em junho de 2017, em Belo Horizonte.
[1] Três dos atores escrevem para o Horizonte da Cena: a crítica Soraya Martins e os críticos-colaboradores Bremmer Guimarães e Igor Leal.
[2] SENNET, Richard. “Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental”. Editora Record, 2003.
Teatro e convívio com a rua
Experiências de grupos teatrais de Belo Horizonte despertam interesse pela relação com a vida no espaço público
— por Joyce Athiê, no Jornal O Tempo —
“A rua é, por excelência, o espaço do trânsito, do deslocamento, do devir. De uma esquina a outra, não se sabe o que está por vir, o que pode nos acontecer, quem vai passar. O movimento é constante e difícil de acompanhar. De firme mesmo, só o ‘teto-céu’ sobre nossas cabeças”.
A sinopse de “Nossa Senhora (do Horto)”, espetáculo do coletivo Toda Deseo, de 2016, abre caminhos para a observação, além do próprio trabalho, de recentes experiências teatrais de ocupação do espaço público, especialmente de grupos que não têm em sua vocação inicial o estar na rua.
É o caso do próprio Toda Deseo, que, depois de vivenciar a rua pela primeira vez, com a intervenção Campeonato Interdrag de Gaymada, intensificou a experiência em um cortejo pelas ruas do bairro Horto, problematizando, ao longo do trajeto, questões que tangem as relações de gênero.
Aproximadamente um ano depois, foi a vez de o Grupo Espanca! deixar por um instante as salas de teatro e estrear seu primeiro espetáculo de rua, “PassAarão”, um convite ao público para vivenciar algumas possibilidades da rua Aarão Reis, no hipercentro de Belo Horizonte. E, ainda mais recente, “Escombros da Babilônia”, do núcleo de teatro do Espaço Comum Luiz Estrela, terminou sua temporada de estreia no último domingo, movimentando, pela rua Manaus, um público diverso, curioso pelo manifesto explosivo, com feições de Teatro Oficina, que tanto desperta interesse quanto assusta alguns moradores do bairro Santa Efigênia. “Sabemos que o Estrela dá espaço ao marginal, mas está no coração da cidade, e friccionamos também isso”, aponta Rafael Bottaro, que assina a direção ao lado de Manu Pessoa.
Respeitando as peculiaridades de cada um dos trabalhos citados, vistos em conjunto eles despertam a atenção para experiências de ocupação da rua, provocando outros olhares e vivências para o estar no espaço público, estimulados pela manifestação artística. Não se trata de dar a essas experiências o título de inaugurais ou inéditas. Tampouco de desconsiderar o que vêm fazendo, há anos, grupos dedicados à experiência da rua, como o Galpão, o Maria Cutia e uma lista de tantos outros nomes que poderiam ser citados. Trata-se apenas de desdobrar os, no mínimo, curiosos e recentes experimentos de outras formas de ocupar e de se relacionar com os espaços públicos por meio do teatro.
“Se pensarmos hoje o que tem acontecido politicamente no país, a ideia da ocupação tem sido mais intensa, nas greves e nas manifestações artísticas. Quando decidimos ir para a rua, queremos restaurar determinadas relações que a arte e esse espaço público podem ter”, comenta o ator Rafael Bacelar, integrante do Toda Deseo e também do elenco de “Escombros da Babilônia”.
Diferentemente de “Nossa Senhora (do Horto)” – que realiza uma dramaturgia um pouco mais linear, percorrendo um cortejo que expõe o moralismo e a tradição mineira, em especial no que toca a identidades sexuais e de gênero, a partir de críticas às instituições da família, da Igreja e até da escola –, “Escombros da Babilônia” e “PassAarão” se constroem fundadas em uma profusão de assuntos, numa opção por dar a ver questões sem necessariamente aprofundar-se em determinado tema.
“Nós entendemos que a rua, em especial no hipercentro, é um fragmento capaz de mostrar o que uma cidade vive em relação às suas contradições, lutas e diversidades. E, dentro do coletivo, isso também era muito presente. Estamos discutindo diversas questões identitárias que falam de cidadania e do direito de viver nela, com suas lógicas de poder. A peça fala dessa cidade que a gente acredita que é diversa e em que nada deve ser silenciado, escondido ou marginalizado. Tem a mulher, a mulher negra, as pessoas em situação de rua, a comunidade LGBTQ, a juventude, as pessoas que acreditam na arte como transformação. Tudo isso está ali porque nos interessa”, afirma Aline Vila Real, diretora de “PassAarão”.
A mesma fragmentação de temas urgentes da atualidade se realiza com o núcleo de teatro do Luiz Estrela, que, desde o primeiro trabalho, buscou dar visibilidade ao Espaço Comum e aos temas que envolveram a vida de Luiz Otávio da Silva, a Estrela. “A situação de morador de rua, a homossexualidade, questões de saúde mental, o artista. Essas bandeiras vêm também para o Espaço. E, além disso, queríamos dar voz ao lugar de enunciação de cada um que estava ali no grupo. São cerca de 66 pessoas no elenco, entre atores e não atores, e eles puderam escolher seus textos, falar do que acham importante para a sociedade”, comenta Bacelar.
Em todos os trabalhos, as relações exploradas entre artistas, público e a rua são o que mais desperta a atenção. Em “Nossa Senhora (do Horto)”, a praça, os muros e suas pichações e a boêmia de um quarteirão do bairro Horto são vividos em cena. O trabalho finaliza-se no convívio entre artistas e público com um pagodão no chamado Bar da Rita. Em “Escombros da Babilônia”, em certos momentos o público é convocado a entrar em cena, podendo circular por entre os atores e interagir com uma diversidade de discursos, além de ser introduzido em um casarão do Luiz Estrela, numa segunda parte do espetáculo.
Cidade
Dramaturgias porosas em espaços públicos
Entendendo as peculiaridades de cada espaço ocupado, é em “PassAarão” que a radicalidade do convívio com a rua se estabelece enquanto princípio do trabalho. Ao longo do cortejo que se inicia na rua Sapucaí, passa pelo metrô e percorre a Aarão Reis até o viaduto Santa Tereza, a rua adentra o espetáculo, com o convite ou não dos artistas. Os moradores do espaço interagem e cortam a apresentação, o ônibus passa e até a intervenção da Polícia Militar entra em jogo.
“Essa foi uma primeira decisão da direção, trabalhar uma abertura para a rua e entender que os acontecimentos que não dominávamos e não temos como prever fazem parte do trabalho. Tínhamos que nos preparar para poder estar e conviver com tudo isso que pudesse surgir. Isso faz parte do trabalho, muito específico a cada dia”, comenta Aline.
Ela conta, como exemplo, o caso de Úrsula, artista, mulher, trans, negra, moradora da região, que conviveu com o grupo durante o processo de criação. “Um dia ela me perguntou se poderia entrar em cena para fazer um contemporâneo. Ela entrou na cena final e dançou lindamente, com noção de tempo, de espaço, de performance. Isso podia acontecer ou não. Tinha dia que ela não aparecia. O espetáculo precisava ter abertura para isso, mas sem depender disso. O que fica é um desafio contínuo de estar aberto para a rua e os espaços, para as reações do público e também para as nossas reações diante o espaço, diante do outro”, conta a diretora.
Aline Vila Real
Allan da Rosa
Elenco
Aline Vila Real:
Falar de PassAarão é falar de paixão, que nos move, nos tira da contemplação, do
entendimento e nos leva à ação.
Nove atrizes e atores, um gigante, uma rua, passantes, ocupantes e muitos
acontecimentos. A cada dia uma cidade, novos encontros, desafios e encantamentos.
Teatro de rua, teatro na rua, teatro com a rua. Vida transbordando os contornos,
propondo novos olhares para o entorno, novas formas de pisar o chão.
Quem convive com a Rua Aarão Reis sabe que o viaduto treme dentro da gente, a
sirene acelera o coração, as calçadas e marquises transformadas em abrigos ardem
nossos sentidos. Vivências intensas. Muitas pessoas passam, mas poucas
permanecem a tempo de ver a lua cheia brilhando o céu da Aarão, a população de rua
sendo atravessada pelo teatro – Úrsulla e sua dança contemporânea, Ronaldo
fascinado com o boneco gigante, Maria José ocupando o mesmo lugar que foi de
Dudrin e depois de Créia. Vida que não pára de brotar.
Conviver nunca foi fácil, e abrir cada vez mais espaço para o outro, uma tarefa
impossível. Mas aqui topamos ocupar o lugar que não existe, construir juntas um novo
espaço, arriscando nossos corpos, crenças, desejos, por uma trajetória coletiva. Coisa
de gente de coragem! Gente como esses nove artistas que se apaixonaram e toparam
viver intensamente esse desafio. Nove mundos que se encontraram, deram os braços
e seguiram.
Agradeço a vocês – Bremmer Guimarães, Brunno Oliveira, Denise Leal, Igor Leal, Kely
de Oliveira, Michelle Sá, Pedro Henrique Pedrosa, Sammer Iêgo Lemos, Soraya
Martins – companheiras de um percurso vigoroso. Agradeço a você, Sergio Penna,
por me dar a mão e seguir ao meu lado. Poucas vezes o lado é suficiente aos homens.
Sigamos!
Feliz pela nova parceria com Allan da Rosa, poeta que admiro. Agradeço a companhia
e olhar atento de meus parceiros de grupo Espanca!, aos queridos do Grupo
Pigmalião Escultura que Mexe, Lira Ribas, Ana Haddad, Lorena Braga, Pablo
Bernardo, Fábio Gomides, 45 Jujubas, a todas as mulheres que iluminaram a minha
caminhada, que Axé!
Kuiwa Matamba!!!
Allan da Rosa:
A PALAVRA – ESSA PEDINTE QUE OFERECE
Compor PassAarão. Tecer o verbo da cena com os medos, arrelias e instigas da trupe. Ouvir a música dos uivos, desesperos e gozos da praça. Dramaturgia entre o fedor desgramento e o mel do desejo, entre a gangrena e as melodias ocultas nos cantinhos. Compor PassAarão e reconhecer a Minas ancestral e a que explode estereótipos no cotidiano rasgado. Compreender a traquinagem que gira sobre as fezes despejadas sem papel, defender do abate que desenha com lápis porco e sanguessuga a cidade que castiga e a rua que aninha espetando. Trançar o texto com as primaveras passadas dos atores, suas piaçavas secas lidando com gosmas encalacradas ainda no peito, suas bonitezas que germinam esperança e alegria. Encontrar um ninho e asas sedentas de ventanias. Gingar o pensamento na febre de traduzir o fervo do meio-dia, o desafio das manhãs e os mistérios da madrugada do centro. Insistir na mira de beber o mar salgado das contradições, crente que ali também há mel e nutrição.
Tecer a dramaturgia com as memórias e anseios, a raiva e a serenidade que a companhia, a estação e a cidade traziam. Querer o imã das fantasias e dos revides, florescer a reflexão pra desviar dessas forcas de cada instante, pegajosas com seu bafo de bueiro, seus baculejos e suas gravatas cintilantes. Entender a trança entre os atuais e os antigos projetos de cidade, a moral que rege a casca grossa no peito, na cabeça e na cama. Pra brincar nas frestas e continuar garimpando, que ouro é a alma, essa que sua, baila e ressoa. Espoletando, abraçando, raiando o sol de nossos corpos e a lua cheia que veste o viaduto Santa Tereza.
Elenco:
Quando o urbanista Aarão Reis assinou o projeto de BH, há mais de cem anos, ele talvez não pudesse imaginar que se tornaria nome de rua, no Centro da cidade. Ele não previa que essa Curral Del Rei, que esse Centro, dentro da Avenida do Contorno, transbordasse numa metrópole pralém das montanhas, hoje com milhões de habitantes. Aarão Reis não imaginava que viraria nome de peça de teatro. Que esses nove corpos, de nove atrizes e atores, em meio ao fluxo urbano, envolvidos por outros corpos ao redor, vivenciariam em conjunto essa experiência, esse encontro. De pessoas. Pássaros. Árvores. Carros. Metrô. Move. Grafites. Bares. Viaduto. Túnel. Escadas.
Dizem que todas as histórias do mundo já foram contadas. Mas será que estamos disponíveis pra ouvir todas elas? Durante esse processo, abrimos o olhar e a escuta pra rua. Encontramos as pistas do tesouro, que diz a lenda, está escondido debaixo das pedras da Aarão. Aqui compartilhamos nossos desejos, nossos anseios, nossos afetos, nossos medos, nossas fragilidades, nossas lutas, nossas marcas, nossa arte. Aqui fomos atravessados pela rua e seus transeuntes. Tecemos nesse convívio, a presença que hoje nos sustenta diante do imprevisível diário que é este PassAarão. Um salto da Sapucaí, nº 429! Um salto sem medo.
Ocupamos. Resistimos. Abrimos passagem. Pra coisas que espancam doce. No universo e em nós. Coisas que resistem. Que se reinventam. Juntas e juntos flutuamos!
Texto: Assis Benevenuto
Direção: Marcelo Castro
Atores: Alexandre de Sena (Andrey/Pai), Gabriela Luiza (Cíntia), Gláucia Vandeveld (Carla/Mãe), Gustavo Bones (Ígor), Lira Ribas (Brito/Irmã Mais Velha) e Raysner de Paula (Chico)
Assistência de direção: Mariana Maioline
Assessoria vocal: Ana Hadad
Cenografia: Adriano Mattos Corrêa e Ivie Zappellini
Iluminação: Nadja Naira
Participação em vídeo: João Araújo Moreira
Técnico e operador de Luz: Edimar Pinto
Figurino: Gustavo Bones e Lira Ribas
Trilha sonora: Marcelo Castro
Arranjo e execução da Primavera de Vivaldi: Peter Opaskar
Vídeo: André Halak
Produção: Aline Vila Real
Realização: Espanca!
Classificação: 12 anos
Duração: 60 minutos
Espetáculo realizado com o patrocínio da Petrobras, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de MG.
Pai e filhas brincam de um jogo de perguntas e respostas enquanto tentam conviver com a morte violenta da mãe que assombra a todos constantemente.
Texto: Diogo Liberano
Direção: Gustavo Bones
Elenco: Alexandre de Sena (Pai), Allyson Amaral (Gangue), Assis Benevenuto (Adolescente), Gláucia Vandeveld (Fantasma), Leandro Belilo (Gangue) e Marcelo Castro (Criança)
Maquiagem: Gabriela Dominguez
:: texto de Grace Passô, direção de Rita Clemente
:: com Assis Benevenuto, Grace Passô, Gustavo Bones, Marcelo Castro e Mariana Maioline
Um pai ausente e uma mãe superprotetora criam seus filhos com muito zelo. Pequeno tem problemas respiratórios, a adolescente se refugia em seus fones de ouvido, Samuel tem dificuldades para sair de casa, o mais velho é sonâmbulo e dá trabalho nas madrugadas, Júnior mora longe e sempre liga para matar saudades. Uma família comum convive em situações corriqueiras: toma café, briga entre si, alguém adoece… enfim, vive seus problemas cotidianos. O espetáculo fala da capacidade do homem de estar dormindo, mesmo quando acordado; porque, mesmo quando acordados, os personagens não se ouvem, não se enxergam, não se percebem, em rituais do cotidiano que conduzem à alienação e à incomunicabilidade. Tudo corre como o esperado, até que todos são obrigados a reconhecer e conviver com as consequências desse amor alimentado por todos, diariamente. Segunda peça do grupo, trata de um silencioso acordo de amor que se chama intimidade. Por isso, vem dela a força que consolidou o Espanca!. Em princípio uma história normal, afinal, todas as histórias do mundo já foram contadas.
Amores Surdos estreou dia 24 de março de 2006 no palco do Guairão, em Curitiba, Paraná. O espetáculo integrou a programação de diversos festivais de teatro do país e já rodou por 29 cidades brasileiras. Pôde ser visto em espanhol no Chile (Puerto Montt), na Colômbia (Bogotá e Manizales) e no Uruguai (Montevidéu). Ao todo, foram 213 apresentações para 34.000 espectadores. Recebeu o prêmio Usiminas/Sinparc-MG nas categorias texto e atriz (Grace Passô), além de indicações ao Shell-SP (dramaturgia, direção e cenário) e ao Qualidade Brasil-SP em diversas categorias. Cumpriu temporadas em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.
:: texto e direção de Grace Passô
:: com Grace Passô, Gustavo Bones, Marcelo Castro, Renata Cabral e Sérgio Penna
Uma Dona de Casa que narra histórias de seus vizinhos; um Cão que late palavras; um Lixeiro em busca de seu pai que há anos não vê; uma Mulher perdida; um Funcionário que trabalha como recolhedor de cães doentes, protegido em um uniforme que faz com que ele não sinta nem quando o espancam, nem quando o amam. Por Elise é a primeira criação do Espanca! e deu base para a origem do grupo. Possui a simplicidade do espaço vazio e a potência da semente de uma árvore frutífera. É composta por situações que primam pela teatralidade nas revelações constantes das relações humanas, pois é no encontro entre esses personagens que se revela o universo humano de cada um. Como uma fábula sobre o comportamento do homem contemporâneo: as contradições dos sentimentos, as formas como vive medindo o quanto se envolve com as coisas, o quanto se protege delas. E nessa busca, o amor espanca os homens, docemente.
Por Elise estreou dia 22 de março de 2005 no teatro José Maria Santos, em Curitiba, Paraná. O espetáculo já foi visto por aproximadamente 35.000 pessoas em 186 sessões realizadas em 50 cidades de todas as regiões do país. Além de apresentações em Berlim, na Alemanha, compôs a programação de 27 festivais nacionais e internacionais do Brasil. Fez temporadas em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Venceu os Prêmios APCA e Shell-SP de melhor dramaturgia. O Espanca! ainda foi indicado na categoria especial do Shell, pela criação e concepção do espetáculo. A peça recebeu também o prêmio SESC-SATED/MG de melhor espetáculo e texto.
:: texto e direção de Grace Passô
:: com Alexandre de Sena, Gláucia Vandeveld, Gustavo Bones, Izabel Stewart, Marcelo Castro, Mariana Maioline, Marise Dinis e Sérgio Penna
Convidados vindos de lugares distantes do mundo integram este encontro internacional na tentativa de conceituar algumas questões que dizem respeito à humanidade. É a partir dessas distâncias que a peça propõe o encontro das similaridades através das diferenças; e busca encontrar o grande tesouro do conhecimento humano, na ciência ou na simples contemplação da natureza. Dentre as conclusões tiradas, está a amedrontadora constatação de que somos efêmeros e provisórios. Inspirado pelo título do poema de Drummond, o espetáculo é uma celebração do encontro e marca a opção do grupo por criar a partir do intercâmbio com parceiros de diferentes campos artísticos. Um Congresso com países, línguas e filósofos inventados mostra aos participantes que o medo é a véspera da coragem.
Congresso Internacional do Medo estreou dia 4 de julho de 2008 no teatro Klauss Vianna, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O terceiro espetáculo do grupo já foi visto por aproximadamente 13.000 pessoas nas 58 apresentações em 10 cidades de 6 estados brasileiros. Sua proposta de criação venceu, por unanimidade, a 2ª edição do Projeto de Co-Produção do Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil, o que fez com que integrasse a programação dos principais festivais do país.
:: co-criação entre Espanca! (MG) e Grupo XIX de Teatro (SP)
:: texto de Grace Passô, direção de Luiz Fernando Marques
:: com Grace Passô, Gustavo Bones, Janaina Leite, Juliana Sanches, Marcelo Castro, Paulo Celestino, Rodolfo Amorim e Ronaldo Serruya
É reveillón em 2.441. Enquanto uma multidão se manifesta nas ruas gritando por algo que não se sabe o que é, uma turma de amigos se reencontra para celebrar o ano novo. Este encontro detona lembranças e reflexões sobre como o tempo transcorreu em suas vidas: como eram, o que desejaram ser, o que se tornaram e o que ainda se tornarão. O quarto espetáculo do grupo é um projeto comum de duas companhias teatrais radicalmente distintas que se uniram para desafiar o espaço-tempo atual. Espanca! (MG) e Grupo XIX de Teatro (SP) se uniram em um trabalho fruto do convívio íntimo entre dois coletivos também amigos. A peça é uma reflexão sobre o estar vertiginoso do nosso tempo, em que o presente é algo que sonha em continuar vivo, o passado é uma realidade que não adivinha o futuro; tempo em que o futuro já chegou.
Marcha Para Zenturo estreou dia 16 de Julho de 2010, no ginásio do SESC São José do Rio Preto, São Paulo. O espetáculo já fez temporadas em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, totalizando 58 apresentações para um público estimado de 7.500 espectadores. Foi indicado ao prêmio Usiminas/Sinparc-MG nas categorias texto, luz, cenário e figurino.
:: texto e direção de Daniel Veronese
:: com Grace Passô, Gustavo Bones e Marcelo Castro
Um núcleo familiar dialoga sobre as artes, o ato teatral e alguns desejos violentos que perseguem o homem. O espetáculo é fruto de uma parceria com o diretor argentino Daniel Veronese. Grande referência teórica e estética para os integrantes do grupo desde sua formação, Veronese é considerado um dos maiores nomes do teatro mundial. O processo começou com o evento ‘Encontro Tátil’ e a criação do espetáculo se deu em seu estúdio, em Buenos Aires, quando o grupo se mudou temporariamente para a capital argentina. Conversando sobre princípios de criação, Veronese aventou qual teria sido sua possível contribuição para o teatro: radicalidade e síntese. Nesta comédia, escrita em 1997, taras, vícios e violências permeiam uma família estranhamente realista.
O Líquido Tátil estreou dia 01 de setembro de 2012 no teatro Espanca!, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A quarta peça da companhia já foi vista por aproximadamente 7.500 espectadores em 106 apresentações em 16 cidades de 9 estados brasileiros. Cumpriu temporadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi ainda indicada ao prêmio Questão de Crítica-RJ na categoria elenco.
Joyce Athiê e Soraya Martins:
O DOCE AMARGOR DA FÁBULA
publicado no Dossiê Espanca! do site Horizonte da Cena em setembro de 2015
Havia certa expectativa quanto ao mais recente espetáculo do Grupo Espanca!. Um novo trabalho sempre cria expectativas, especialmente, quando os anteriores atingem certo patamar de qualidade. A superação é sempre esperada, uma cruel realidade de qualquer área artística. Mas, no caso do Espanca!, também outras razões despertavam curiosidade sobre o que viria a ser “Dente de Leão”, primeiro espetáculo do grupo sem Grace Passô, uma das fundadoras do coletivo, em que desempenhou os papéis de atriz, diretora e dramaturga.
“Dente de Leão” vem com elementos novos, a começar, então, pela equipe. Marcelo Castro deixa de atuar para ocupar o cargo de direção pela primeira vez e Assis Benevenuto é convidado a pensar a dramaturgia, em um trabalho tão processual e integrado quanto ao que o grupo estava acostumado a fazer, entre escritas e salas de ensaio. No elenco, Gustavo Bones é único representante do Espanca! em cena e a ele, como também já havia acontecido em outros espetáculos, se juntam outros atores: Alexandre de Sena, Gabriela Luiza, Gláucia Vandeveld, Lira Ribas e Raysner de Paula.
Com todo esse conjunto de inovações, não seria surpresa que algumas diferenças fossem notadas, e a primeira delas, que dá todo o tom do espetáculo, é a estrutura da narrativa que, em meio a camadas, concatena e dá lógica a uma série de ações, aproximando-se de uma construção fabular, com uma história a ser contada marcadamente com início, meio, até chegar ao fim, em uma escala dramática cada vez menos frequente no teatro contemporâneo e nos últimos trabalhos do grupo.
Essa escala diz de um crescente que, no caso de “Dente de Leão”, desenvolve-se com aparente ingenuidade, com uma sutil apresentação dos núcleos que compõem a história e aos poucos vão tendo suas relações desveladas, até chegar ao momento catártico da revelação do conflito. O que estamos apontando como uma diferença refere-se a uma preferência por uma estrutura mais tradicional que costura suas ações a partir de uma lógica de causa e efeito, agenciando as ações em progressão crescente até se chegar ao clímax, ao problema e a sua consequente resolução, chegando, inclusive, à moral da história.
Ao que se via anteriormente, a opção adotada no novo espetáculo contrapõe-se a uma forma narrativa mais fragmentada, menos fechada e focada em um conflito propriamente dito. A estrutura dramática empregada no espetáculo preza pela coerência; por uma unidade entre os núcleos que estabelece; por uma orientação que, como em um thriller, em seu aspecto formal, dá ao público gotejantes peças para a construção de um todo linear e coerente. É como um convite ao espectador para que ele siga suas pistas, e este, enquanto as segue, vai arrematando os pontos, já consciente e à espera do “x” da questão.
A ingenuidade dita acima está relacionada com essas pequenas pitadas de uma história. O texto de Assis Benevenuto cria ambientes onde os personagens se relacionam em núcleos, estabelecendo em alguns momentos travessias e conexões: a casa da família, a sala dos professores e o espaço dos alunos, sendo que professores e membros da família são interpretados pelos mesmos atores que se dividem em diferentes personagens. As primeiras entradas, carregadas de dados e descrições aparentemente inúteis, como o escaninho enferrujado, a escova de cabelo, dão a conhecer espaços e papéis que, aos poucos, serão desenvolvidos.
Também o aparentemente inútil pode ser explicado. Nestes dois núcleos, família e escola, parece haver uma opção por figuras mais caricatas. No âmbito familiar, superficialmente comum, pai, mãe e filhas fazem uso de pequenos elementos que se tornam assunto de diálogos bizarros que levam a uma incomunicabilidade dos mesmos. No núcleo escolar, professores conversam frivolidades e se mostram tão enferrujados quanto os escaninhos da sala. O caricato dos personagens está além das interpretações exageradas, está no nascimento dos personagens e na concepção do que eles têm a oferecer para a história.
Dessa forma, embora redutora, a fôrma caricatural empregada no espetáculo vem a serviço para revelar a exacerbação dos absurdos enfrentados na precariedade do sistema educacional público e nas relações familiares onde cada um desempenha o papel esperado socialmente. O caricato não aprofunda, não complexifica. Aplaina as multiplicidades dentro de um sistema social que abarca diversas formas e possíveis angulações. Mas há nisso tudo uma função: ironizar dois núcleos essenciais – teoricamente – para a formação humana e cidadã de qualquer indivíduo: a família e a escola.
O irônico reside, portanto, na desconstrução desses dois lugares. No espaço familiar, lugar de sociabilidade primeiro, cada membro se fecha na representação do seu próprio papel. As interações são rasas e representam uma forma banalizada de estarmos no mundo: todos falam e ninguém se ouve. Nos diálogos tumultuados, o que menos se tem é a intenção de dialogar e estabelecer relações que ultrapassam essa superficialidade. Em uma recorrência, para falar da incomunicabilidade humana, entram em cena recursos bastante usuais: a torre de babel, os personagens centrados em suas histerias e a incorporação dos aparelhos celulares do cotidiano.
No núcleo escolar, o lugar criado fundamentalmente para estimular o conhecimento, desenvolver uma visão crítica e um olhar criativo sobre as relações que nos cercam, o que se vê é o movimento que vai na contramão desses propósitos. Os professores, como se fossem alheios, criticam um sistema escolar, metáfora de uma engrenagem histórico-social maior, sem se enxergarem como parte integrante dessa estrutura viciada de que eles corroboram para a manutenção. O espaço comum dos anos escolares, a Feira de Ciências, momento interdisciplinar de final de ano em que se espera que todo o conhecimento adquirido borbulhe e exploda como sal de frutas em água, acaba por se tornar o burocrático lugar dos Belmiros que se foram e dos por vir. É a perpetuação do mesmo.
Embora, em análise, a opção pelo caricatural se revele coerente e objetiva, como sustentamos, na prática que se realiza diante do público, ela desperta certo incômodo no esvaziamento dos personagens e na consequente interpretação de figuras. Não se trata aqui de uma referência aos trabalhos dos atores, que entram no jogo da brincadeira do exagero e do ridículo, mas da própria opção por construir sujeitos aplainados em características marcadamente determinadas.
Para a deflagração dos absurdos, o espetáculo faz uso de uma ferramenta essencial: o humor. Mais direto e aberto do que outras investidas no riso que o grupo já empreendeu, como em “Congresso Internacional do Medo”, o exagero de “Dente de Leão”, um tom propositalmente acima e a liberdade para “cair no ridículo” levam o público a boas risadas. Não há quem não se divirta com o inglês estridente da personagem de Lira Ribas.
Mas esse humor ultrapassa a simples leveza da diversão: tenta deslegitimar discursos e práticas opressoras que se escondem por trás do próprio riso. Quando rimos das mentiras e da picaretagem do professor Andrey, estamos rindo de nós mesmos, mas, ingênuos (eu-público), pensamos que estamos rindo do “outro”. Pouco a pouco, vamos percebendo que não existe o “eu” e “outro”, mas sim um “nós” que compartilha o mesmo barco. O “outro”, antes motivo das nossas risadas, é figura de nós mesmos. Somos também parte do todo maior que é a sociedade, também encenamos os nossos papéis e, mais, estamos em busca de uma encenação magistral, que nos camufle debaixo de convenientes máscaras.
Rimos um riso amarelado, que incomoda porque nos mostra o quanto somos oprimidos por um sistema de práticas que diz que temos que trabalhar não numa empresa de telefonia, mas em um “callcenter”, que se não nos engole, nos manipula com uma força de leão a ponto de não pararmos e percebermos que a nossa atual maneira de estarmos “in” é o “iogurte todo dia de manhã. Escola durante o dia. A gente matando aula. Apresentar vulcões na Feira de Ciências. Os professores cansados de dar aula. O dia depois da noite. As estações… Saca?”. E em qual momento do dia nos perguntamos o que estamos fazendo das nossas vidas? Rimos quando a mãe, o pai e/ou os professores não sabem como responder a essa pergunta retórica, o riso é amarelado porque, no fundo, a gente-público também não sabe.
O núcleo dos estudantes, formado pelos personagens Cintia, Igor e Chico, se revela mais interessante que os demais. É neste espaço que o caricatural se apresenta com menor dosagem. Apesar do comportamento tipicamente adolescente, há neste ambiente revelações e surpresas. É aqui que a história ganha movimentos e contornos. Após a gradual caracterização e exposição dos núcleos e dos personagens que se tornam conhecidos, um salto abrupto se instaura na escala dramática, que sai do estado de aparente estabilidade. O vulcão entra em erupção a partir de uma utópica revolução pretendida, claro, pelos estudantes.
Como uma rasteira nos professores, nos familiares e no público, os alunos expõem a representação dos papeis a que todos estão submetidos e se lançam em uma tentativa de rompimento com o estabelecido, não só no campo escolar, mas também em uma esfera mais ampla que alude à acomodação e à inércia social. Cabe aos jovens uma quebra de ciclos viciosos e representações protocolares. O jogo metateatral se faz presente não por coincidência. Ele revela a constante encenação de paradigmas comportamentais que nos levam a cumprir funções que nos são colocadas, como a mãe que, apesar das suas preocupações banais, está no lugar da pessoa amável e protetora, afinal, o que mais se espera de uma mãe?
Na direção contrária a essa constante representação, os alunos investem em uma nova forma de jogar e explicitam os percursos seguidos por uma massa guiada por correntes e fluxos que impõem uma série de padrões, entre eles, a estética corporal, o domínio de uma língua imperialista e o sucesso profissional. Nessa correnteza, não há espaço para refletir e se perguntar que caminho estamos seguindo, ou ainda, quais trilhas queremos percorrer. A reflexão é silenciada pela conformidade com o previamente definido.
Voltando à estrutura dramática, quando o jogo está armado e tudo parece estar a caminho de um desfecho, vem a segunda rasteira, momento surpreendente onde parece que o plano dos estudantes deu errado. Mais uma guinada na tensão espetacular. Parece que algo foge ao controle, e Igor, estudante e filho de uma imigrante latino-americana, toma as rédeas de uma situação, respondendo com violência toda violência sofrida, empreendendo-se, à sua maneira, em uma busca pela transformação.
A guinada formal da narrativa – que aqui, informalmente, chamamos de rasteira – é também o “turning point” para a introdução mais densa de outra esfera de discussão do espetáculo. No âmbito das representações, entra em jogo o preconceito, esse outro elemento travestido em máscaras neutras.
A princípio, são três adolescentes que vivem em um mesmo universo, onde a amizade faz com que as diferenças socioeconômicas pareçam irrelevantes. Embora haja recorrentes brincadeiras entre amigos, que remetem à origem não brasileira de Igor, a convivência é entre iguais.
Bruscamente, no entanto, as individualidades e os contextos emergem, fazendo com que o público, ao olhar para Igor, veja em si o preconceito escondido debaixo do tapete, como se não existisse, ignorado por conveniência. Filho de boliviana, paraguaia, peruana ou colombiana, a nacionalidade não importa frente a uma superioridade míope dos brasileiros em relação a seus vizinhos.
Dessa forma, a começar pela origem, Igor é tido como o detentor de menores privilégios. Como um processo “natural”, a ausência materna o leva a ser o aluno repetente, dá a ele a chancela de má companhia para os demais estudantes que, aparentemente, cresceram dentro de um aparato familiar “normal”. Logo, a ele é relegada uma herança social de quem nasceu para dar errado.
Por causa desse contexto, é esperado que Igor se rebele até mesmo contra os colegas. Novamente, quando se espera um desfecho, dessa vez mais trágico, somos surpreendidos uma terceira vez com a revelação das armações dos jovens estudantes.
Ao final, como pede uma estrutura fabular, fica uma mensagem para levar para casa. Cintia, a estudante responsável por incitar a mudança e o pensamento revolucionário, é o retrato do jovem, o vento que sopra, que tenta mudar de direção e acaba por se tornar o símbolo de uma utopia fracassada. Já no começo do espetáculo que incita o metateatro, ela é a personagem responsável pelo olhar crítico que aponta para a mesmice, para a vida previsível que as pessoas levam. É ela que evoca o “Teatrinho das Estações”, que nada mais é do que o teatrinho cotidiano da vida onde todos somos personagens e que representa o ciclo ininterrupto – do outono, da primavera, do verão, do inverno, do outono, da primavera… –, que expõe tanto as repetições quanto a representação de papéis a que nos referimos anteriormente.
Ela é um personagem-vagalume, a luz e a possibilidade de renovação. É ela quem consegue ativar minimamente um “princípio da esperança” em Chico, Igor e nela mesma: lança uma luz particularmente viva sobre a realidade procrastinada do seu núcleo familiar e escolar. O desejo por fazer diferente a encoraja, a faz questionar por que todo dia fazemos tudo sempre igual, e a impulsiona a realizar, dentro de uma microesfera da sua escola pública, uma ação política com as próprias mãos.
Apesar da inquietação por mudança, Cintia repete o lugar social da família a que tanto criticava. Nesse sentido, a estrutura fabular se mostra carregada de uma dureza contrária à ingenuidade dos adolescentes que guia o espetáculo. A referência ao que cantou Elis é inevitável.
Se falávamos em diferenças ao início deste texto, ao fim, apontamos para uma marca que permanece mesmo com tantas transformações: “Dente de Leão” também espanca docemente. O doce vem da inocência do adolescente e da criança que, ao final, brinca de representar e faz seu teatro imaginário. Espanca porque mostra a violência de construções sociais cruéis vistas com naturalidade, o preconceito com o diferente subjugado, o descaso de um sistema viciado que não poupa professores e alunos.
Por isso, “Dente de Leão” é esse duplo: é o que arranca, despedaça, faz sangrar e, ao mesmo tempo, é o que voa com o vento, um algodão doce.
* Joyce Athiê é [ex] Atriz, jornalista no “O Tempo” e mestre em jornalismo pela FAFICH-UFMG. Soraya Martins é Mestre em Teoria da Literatura pela FALE/UFMG. Atriz cofundadora da Sofisticada Companhia de Teatro e pesquisadora do teatro afro-brasileiro.
Um jovem é atropelado e tem seu braço amputado. A velha lei diz que o homem culpado deve ceder um de seus membros à vítima como reparação e o braço torna-se personagem central na trama.
Texto: Roberto Alvim
Direção, Bonecos e Trilha Sonora: Eduardo Félix
Elenco: Allyson Amaral (Manipulador), Assis Benevenuto Vidigal (Homem), Gustavo Bones (Velho) e Marcelo Castro (Jovem)
Confecção de Bonecos: Mauro de Carvalho
Grace Passô
Gustavo Bones
Marcelo Castro
Paulo Azevedo
Rita Clemente
Samira Ávila
Grace Passô:
Quando pensei na possibilidade de uma peça com a história de “Amores Surdos”, pensei “Ui ui! Isso diz algo, essa idéia é uma forma que expressa alguma coisa que sinto”. E então, ui ui, brotou em mim pela primeira vez, o desejo de escrever. Porque não bastaria interpretar um personagem, tratava-se, para além de um desejo de atuação, de um desejo artístico de escrever uma trama, algo para além de meu próprio corpo. Comecei a escrevê-la. Tempos depois, o grupo desejou encenar essa história e eis que ela foi sendo construída e reconstruída no processo de criação da peça. E não foi fácil.
Eu seria irresponsável se não dissesse isso: este texto nasceu como uma ode à minha família. Ao que vivemos e construímos juntos. Data os rascunhos, comecei a escrevê-lo em meus poucos 17 anos, enquanto, imagino hoje, devia estar me indagando como o amor é complexo. No começo, não imaginava que interpretaria a Mãe. E quando tive que improvisar a ordem de não matar o Grande Bicho, minha cabeça estava na minha história, quando meu pai morreu repentinamente e de repente foi preciso um grito maternalmente cru para acordar algumas pessoas de que era preciso continuar a viver.
Gustavo Bones:
OH! DERRADEIRAS DA ALMA. AGORA ENTENDO.
Talvez estivéssemos todos dormindo. Fazendo apenas o que nos desse vontade. Caminhando por aí de olhos abertos, bebendo água, às vezes vendo TV, escovando os dentes, mexendo nas gavetas… fazendo o que a alma pedia. Sem responsabilidade. Dormindo. Todos nós: eu, Pequeno, Marcelo, Graziele, Samuel, Grace, Joaquim, Paulo… esperando, inconscientes, um telefonema daquele que mora longe, avisando que desistiu de viver. E enquanto construíamos nossa família fomos percebendo a natureza desses amores surdos criados por todos. Entre nós. Diariamente. É um amor grande. Mas que às vezes sufoca. E para aqueles que têm os pulmões pequenos, respirar junto é mais difícil. Então algumas pessoas cresceram… (dar o nó no sapato é muito complicado. E exige coragem.) Outras foram embora… (o primeiro dia não é fácil, eu sei.) Mas aqui em casa agora é assim: as portas ficam sempre abertas. E quem já morreu, quem ainda precisa de colo, quem mora aqui por perto, quem está do lado de fora, quem mora longe, quem acabou de partir… todos são celebrados com muito amor. Amor maduro de quem já construiu – e viu ruir – tantos castelos. E no entanto, continuamos: Mamãe reclamando da coluna, a Grazi estudando inglês, o Pequeno entrou na natação, o vô sempre vem nos visitar… Todos com celulares nas mãos. Alguém pode estar querendo falar e isso é muito importante. Não é?
Marcelo Castro:
“Oh, como cantam no andar de cima! Há um andar em cima nesta casa, com outras pessoas. Há um andar em cima onde moram pessoas que não percebem seu andar de baixo, e estamos todos dentro do tijolo de cristal”.
(Júlio Cortázar – Histórias de Cronópios e Famas)
Estou diante do público e existe uma história entre nós. É a história das pessoas que estão diante de mim, que de fato não me escutam, que não me abrem a porta. Eu vejo as lentes dos seus óculos brilhando no escuro, ouço risos abafados pelo acrílico e eles não assistem. Quem ajuda? Pai? Amores Surdos é uma peça dolorida, que toca feridas profundas. Que aperta o nosso calo mais escondido. “Têm coisas que foram feitas pra se viver com elas”.
Paulo Azevedo:
GRANDE FÔLEGO DE UM PEQUENO PULMÃO
Pé ante pé. Descalço.
Nas últimas semanas deparei-me com a enorme dificuldade de colocar, nestas linhas, algo sobre aquele que foi e, tem sido meu filho, nos últimos anos. Filho sim. E caçula. Quem vai negar que um personagem interpretado por alguém, não é uma cria?
Escrevo porque preciso, porque dói, como diria Clarice Lispector. Já começo tendo que lidar com a escolha de palavras para compor a lógica de raciocínio, enquanto um turbilhão de sentimentos, imagens e memórias me toma. Então, por favor, venha comigo independente do tortuoso caminho que vamos percorrer até o final.
Começo pelo papel. Pelo que “Pequeno” era originalmente, antes de mim: papel. Folheei as diversas versões do roteiro e pude relembrar algumas curiosidades que deixaram de ser palavras para ser corpo. Por exemplo: Pequeno sempre foi um garoto preocupado (por isso, os ouvidos sempre atentos à “campaiña”, ao telefone e as conversas da casa, inclusive as do andar de cima); ele adorava o “çíndico” (sim, ele falava muito errado!); e, certa vez, na escola, desenhou dois pulmões minúsculos. A professora não percebeu e achou que ele tinha desenhado um detalhe da camisa. Ah, como se não bastasse todos os acontecimentos trágicos ao longo do espetáculo, ao final de tudo, ele encarava duras revelações: a primeira, que seu bicho de estimação não era macho, mas fêmea – “Imagina o impacto disso na vida de um menino?”; e a segunda, que ele estava todo o tempo, no teatro. Após a tomada de consciência, exclamava num grand finale: “Ó derradeiras da alma. Agora entendendo!”. Haja fôlego! Fôlego foi o que não faltou. Ainda nas primeiras semanas, recordo dos experimentos com objetos e improvisações. Numa delas, cada um criou um clipe para o personagem. Pequeno não pensou duas vezes: uniu o gosto pelos musicais com o sonho de respirar direito e perder o medo da água. Encheu dois balões de água, apertou-os contra o peito. O olhar era de dar dó. Ao estourarem, a poça foi o suficiente para ele se esbaldar ao som de “Cantando Na Chuva”. Não vou esquecer o olhar dos colegas ao final desse momento, no mínimo surreal, que se restringiu à sala de ensaios.
Isso me remete a outra lembrança, essa, vista pela platéia: num determinado momento, Pequeno conversava com Samuel, já do lado de fora da casa. Pela primeira vez, ele percebia a presença dos espectadores e buscava compreender: quem eram? o que faziam ali, na casa dele? E queria saber mais: “Por que não falam?”. No segundo dia de apresentação, no Festival de Curitiba (após uma estréia no mínimo, traumática!), uma das peças do castelinho caiu fora da área de cena. Lembro de olhar para o espectador como se pedisse de volta. Com sorriso, ele me entregou. O pacto estava feito. Aliás, esse pacto resultou em instantes de extrema sutileza e companhia. Mesmo na distância dos espaços maiores, era possível identificar no olhar das pessoas: o teatro feito ali era uma invenção coletiva, fruto da parceria entre quem faz e quem vê e acredita no que é feito. Eu sou uma criança. Não havia dúvidas: o olhar ingênuo, as linhas tortas de um corpo ainda sem o aprendizado dos limites do mundo adulto, a sexualidade ainda sem contornos conscientes, fora de qualquer moral.
Enquanto fuço as gavetas, fico imaginando que Gentil, o pai, talvez tivesse uma relação secreta de muita proximidade com Pequeno e mais: que ele ajudava a cuidar do bicho de estimação! Quem já viu “Amores Surdos” sabe da gravidade disso! Será que foi numas das horas de “dar comidinha” ao filhote, que Gentil, distraidamente foi… Não, não é possível. Não consigo controlar os pensamentos (todos nessa linha, já aviso). Parei.
Cada personagem, um timbre, um registro sonoro. A afinação se deu aos poucos, a longo prazo, até ser possível escutar cada instrumento e melhor: o conjunto. Nesse trabalho é fácil perceber o quanto a ação de um gera conseqüências, reflexos. Como na vida. Talvez seja esse o principal ponto: vivemos cercados pelos outros. Não é possível ignorar a convivência. Dê um passo e haverá mudanças. Não dê, e outra mudança também acontecerá. Não há saída. Nem bela, nem feia. O amor que sufoca; as palavras sinceras e confessionais jogadas ao vento; a estranheza de ver a cor dos olhos do outro, que cresceu ao seu lado, e ver que já não é mais como foi registrado um dia; a vontade de esticar a coluna torta; a dificuldade de calçar os sapatos que delimitam o tamanho dos pés ao mesmo tempo em que o abrigam; a briga entre o que idealizamos e a beleza do realizado. Tudo isso está em nós, criadores. Ao nosso redor e está nessa obra. Obra na qual as pérolas são limpas após cada espetáculo para serem lançadas, novamente, na próxima sessão. Para muitos.
Paulo Azevedo, “Gentil” do Pequeno.
Madrugada do Dia dos Professores /2008.
Rita Clemente:
Esta obra é feita de dissonâncias, está baseada na diferença. As notas são mínimas, frações de tempo. É como ouvir um instrumento antigo, a princípio desconforta aos ouvidos mas aos poucos faz vibrar na memória… O tempo… Sempre. Rara experiência.
Samira Ávila:
Amores Surdos veio para mim aos poucos. Rápido e intenso e aos poucos. Como a construção de uma casa. Preciso habitá-la, mas antes saber que “tipo” de casa eu quero construir. E pensando assim não viso, inicialmente, o resultado estético desta casa, mas sim como eu quero me sentir dentro dela. Assim como é mais fácil sentir nossa família do que enxergá-la, ouvi-la. Pairava no ar as incertezas e as mil possibilidades dos tantos moradores de Amores Surdos. Já não éramos mais vizinhos, mas Família (e sobre este tema anotei num caderno uns tópicos sobre algumas “funções” da Família que achei em algum lugar: “geradora de afeto”, “proporcionadora de segurança e aceitação pessoal”, “proporcionadora de satisfação e sentimento de utilidade”, “asseguradora da continuidade das relações”, “proporcionadora de estabilidade e socialização”, “impositora da autoridade e do sentimento do que é correto”). Obviamente que não tínhamos esta família e para construir a nossa – torta, surda e real que fosse – era preciso perder o chão de transeunte, de passante, de meros conhecidos…O trabalho com a Rita foi fundamental para este processo básico de (des) estruturação. Ela nos fez ver a nossa casa muito engraçada, meio sem teto, com pouco chão. E fomos meio que construindo do zero. Por Elise foi um encontro surpreendente, Amores Surdos era vontade de ficar. E assim segui neste processo, tentando achar um chão mais firme, mudando os móveis mil vezes de lugar, com medo tanto de entrar quanto de sair desta casa, oscilando…Até que percebi que este processo era maior que nosso espetáculo em si, saía inclusive fora dele. Também percebi e principalmente aceitei que, mesmo se meu quarto não estivesse em ordem, a casa já estava de pé. A casa não iria cair, ela sustentava meus passos incertos. Até que eles ficassem mais firmes…E não é assim que a gente aprende a andar?
Grace Passô
Gustavo Bones
Marcelo Castro
Paulo Azevedo
Renata Cabral
Samira Ávila
Grace Passô:
Comecei a pensar Por Elise há muito tempo, quando escrevi algumas situações que considerava teatrais, situações que, no meu ponto de vista, tocavam na natureza do teatro. A primeira situação escrita nessa peça, há muito, foi a de um lixeiro que encontrava seu pai que não via há anos, na rua, enquanto corria trabalhando. Olha um pedaço dos primeiros rascunhos:
Lixeiro: Pai?
Pai: Bom dia.
L: …
P: Sou eu mesmo.
L: …
P: Quanta saudade. (tenta se aproximar)
L: Não vem. (ouve-se GRITOS de outros lixeiros, apressando-o) Eu tenho que ir.
P: Espera.
L: O que o senhor quer? Eu tenho que ir, não está vendo?
P:. Você está crescido, é um homem.
L: É? (medo, desconfiança)
P: …
L: …
P: É, está. Porque não olha pra mim?
GRITOS DOS LIXEIROS
L: Eu tenho que ir.
P: E seus irmãos?
L: Estão bem. Está tudo bem.
P: E sua mãe? Eu tenho saudades dela também.
L: …
P: Porque não olha pra mim?
L: (olha em seus olhos) Porque o senhor sumiu? Porque não te vejo há tanto tempo? Porque está aqui, me atrapalhando?
P: …
L: …
P: … Você… recebe o dinheiro que te mando para as aulas de inglês?
L: …
P: Eu sempre quis falar inglês
L: …
P: Tudo bem, eu te entendo. Eu não vou me justificar, o que você sente está no seu lado de dentro, muito do lado de dentro… E eu não posso te virar aos avessos. De qualquer forma eu queria muito encontrar com você nem se fosse pra ficar assim, em silêncio. Eu já estou bem feliz de te ver assim… forte, um homem forte..
L: Eu tenho que ir…
P: Espera. Eu sei que tem que ir. Aceita um cigarro?
L: Eu não fumo.
P: Graças a Deus.
L: Esse cigarro é o mesmo que o senhor saiu para comprar, anos atrás, e não voltou mais?
P: Não fala assim.
… E assim se seguia a cena. Achei tão intenso isso de um lixeiro, enquanto trabalha, encontrar seu pai perdido em sua história… e intuí que havia aí uma lógica poética. Depois comecei a escrever um discurso de uma Dona de Casa, que, assim como minha mãe, dizia coisas muito sábias de forma simples; uma senhora em que a sabedoria havia nascido em si pela experiência e pelo tempo. Intuindo que essa personagem seria uma espécie de narradora do que viria a ser uma peça, ela teria essa função de ter certo domínio da história, assim como têm os narradores. E também assim iam nascendo alguns outros personagens.
Tempos depois, desejei dirigir um espetáculo pela primeira vez e então esses escritos precisariam ser terminados. Quando nos reunimos apresentei o texto aos componentes do que viria no futuro a ser o que somos hoje: o grupo Espanca! No processo de construção do espetáculo muitas coisas foram mudadas no sentido de introduzir dramaturgicamente o texto na cena. Nesse processo várias modificações foram feitas para que o objetivo primário, que é o “espetáculo”, significasse uma única linguagem e obra artística.
Já no processo de construção da peça, o grupo se revelou não só como um grupo de atores mas também de criadores: a cada ensaio a concepção geral do espetáculo foi discutida e proposta conjuntamente, várias modificações foram propostas por todos, acrescentando a essa obra o fato que fazer uma peça de teatro é uma questão coletiva. E assim, em conjunto, demos origem ao espetáculo Por Elise.
Como diretora, acredito ter buscado uma encenação que surpreendesse a forma, sem perder de vista seu significado no discurso da peça. Buscado o “estranhamento” da forma sem vangloriar-se dele. Acredito também que foi um processo generoso, em que os cinco criadores se engajaram na construção de forma bonita.
E ainda, por minha vez, intuo que essa obra tenha uma qualidade muito especial: a inocência. A inocência da primeira direção, do primeiro texto encenado, a inocência da primeira obra de um grupo, o primeiro sopro em conjunto. Ai, que fresca é a primeira brisa da manhã.
Gustavo Bones:
O QUE ME MOVE É A INTENSIDADE DA FÉ.
Quando começamos a ensaiar o espetáculo, Grace me pediu que fizesse um para-casa e, como ponto de partida, recebi um recadinho da senhora Elise: “Eu estava pensando e acho que o lixeiro pode ser um homem de fé. E gostaria que você fizesse uma cena com o título ‘O que me move é a intensidade da fé’”. Naquela época, inocente que era, eu não acreditava em Deus. Subestimava, prepotente que sou, a gigantesca força contida no menor ato de fé. Porém, ótima como de costume, D. Elise me preveniu: “Ter fé não é fácil como se pensa de maneira desavisada”.
E então comecei a correr… Corri porque havia uma ordem. Correr. Corri porque gritavam a todo instante pra eu não parar. Correr. Corri porque não havia outra coisa a fazer. Correr. Corri porque não sabia fazer de outro jeito. Correr. Corri porque D. Elise disse: corra! Corra! Corra! Correr. Corri porque precisava encontrar meu pai, onde estará meu Pai? Correr. Corri pra me esquecer do meu pai. Correr. Corri procurando um sentido em mim que basta. Correr. E esse sentido não chega! Correr. Correr procurando entender o porquê de tudo isso. Correr…
E corri tanto! Mas como corri… Até que um dia cansei. Cansei. Parei. Perguntei: correr pra quê? Correr pra onde? E aconteceu um instante. Um instante minúsculo. Um desejo inquestionável que não me deixou desistir. E recomecei a correr…
Dizem que momentos como este, tão infinitamente pequenos, estes instantes tão cansados da vida, esses átimos sem esperança, chamam-se Deus. Nesses mini-segundos, Ele nos dá uma pista, nos consola com a possibilidade de Sua existência. E a gente, carente que somos, larga tudo e volta a correr. Corre pra ver se era Ele mesmo. Dizem…
Foi “Por Elise” que me ensinou o nome desse desejo. Desse desejo de vida. Foi “Por Elise” que me ensinou, também, que o mais legal era procurar por Deus – e não encontrá-lo. Que encontrá-lo é só um pretexto pra recomeçar a correr. Deus é recomeço. Corremos na esperança de um dia revê-lo. Fé é esperança. Sou um homem de fé. E agora não quero mais saber se Deus existe. Quero saber é quem respira por Ele! Quem? Quem? Quem? Quem? Quem?
Marcelo Castro:
CÃO É COISA QUE NÃO SE REPRESENTA.
Aprendi com Por Elise que o Teatro não precisava descrever o mundo ou imitá-lo. Estava declarada uma guerra no campo da Linguagem, uma guerra contra o que está posto à nossa volta. O que é realmente um cão?
Um dia caminhando pela Avenida do Contorno Grace me incitou a pensar em um “organismo vivo”; e esta palavra, “organismo”, me guiou durante um bom tempo. Mais tarde me dei conta que às vezes, era necessário desapresentar o personagem, escondê-lo do público, para mostrá-lo na hora precisa. E é bonito quando já no meio do espetáculo escuto alguém na platéia cochichando: “olha! olha! ele é o cachorro!”
Paulo Azevedo:
COMO CABER EM UMA ROUPA
Agora vamos conversar. Daquelas conversas atrasadas que podem durar pouco mais que minutos. Já começou.
A família vai bem. Os cachorros continuam latindo palavras bonitas vizinhança afora. A passagem pro Japão continua cara: um sonho de consumo. As ruas continuam limpas. Moças bonitas passam correndo na traseira de ônibus, estampando prédios, caindo em queda livre. Os abacates estão em falta. A vitamina virou um sucesso no meio cult. É servida com gelo seco e Dry Martini nos principais cafés da cidade. Eu? Não tomei ainda não. Pra não engordar.
Imagine que comecei poucos anos atrás a usar um uniforme meio estranho. Os estilistas diziam ser uma mistura de frentista de posto BR (bem verde bandeira, com boné e tudo!) com colete no tronco e um protetor no braço direito feitos de espuma crua. Foi o primeiro passo. Caí no mar e quando se está lá no meio, bem no meio mesmo, a gente não consegue parar para pensar e dizer: “Olha, isso seria melhor se fosse feito assim, se eu andasse assim, se falasse assim…”. Não teve jeito. Fui no impulso ingênuo, despretensioso, de algo urgente, pra ser feito naquela hora. Foi um susto, um momento de suspensão, de sentimentos sem nome, o nascimento. Com essa roupa, segui grandes marcas no chão, duro, pouco à vontade ainda. Precisa experimentar outro corpo, com outra roupa.
Na ressaca do parto, um pouco de racionalidade é sempre bem vinda: com esta roupa não dá. Aumenta aqui, troca ali, costura aqui. E eu lá dentro na busca de um espelho que me desse a possibilidade de ver de fora, entender de fora, sentir de fora. Bora outra vez. Agora como diriam novamente os profissionais da área fashion: “Tá claro que a calça e a camisa são bem melhores que o macacão, mas este colete… este colete pode até proteger, mas ainda não é”. Não precisa ser especialista pra perceber isso. E eu lá dentro. Os pés firmes, desde o início. O chão era fértil, um bom lugar para plantar, criar, colher. Um chão que aos poucos virou território e hoje tem nome: Grupo Espanca!. Interessante este nome. Sabe, me disseram pra não sentir, não me abrir, ser indiferente. Mas será que tem gente que é assim? Isso é gente? Por isso, segurei tudo e veio uma batida forte do coração literalmente na cadência do samba. O coração é uma escola! Vi o sol. Cai. Levantei. Cai de novo e esbravejei em japonês. Outro dia revi esta imagem e confesso que fiquei até um pouco comovido. Forte.
Novos passos. “Vamos embalar tudo, não pra ele não correr o risco de se machucar, de sentir nada!”. Terceira tentativa. Tira o boné e muda o abacate (afinal, pra quê abacate tem caroço?). Soa bem definitiva, soa como a última vez. Coube! E eu pensando: Mas como é que entra nisso? Como é que anda nisso? Como é que cai? Dá pra ir ao banheiro rapidinho antes de entrar? Não. De cara nota-se. Até aí foram meses. Cresci. Engordei. Emagreci. Experimentei o drink de abacate (uma vezinha só). Veio a crise: ainda não é isso. Tentei ser alemão, ser durão, ser outra coisa que não me fez dançar com esta roupa. Sentir a pele solta lá no oco, mesmo protegida.
Pele. A pele solta água, né? Interessante isso. Porque a roupa foi aos poucos sendo absorvida de mim. A espuma encharcou até que ela e eu achamos um lugar comum: o corpo. Com ele veio a intenção mais clara, a fala mais humana, a compreensão do caminho. Gente é uma represa d’água, grande, segura, estável, até que um vazamento aqui, um poro aberto ali, uma fissurinha, um rasgo e… Rompe-se uma torrente de sentimentos estancados, fazendo o coração sair correndo em direção ao mar! Ai, ai… A roupa está do meu tamanho, e eu do dela. Estamos juntos. À base de muito estica e puxa, de apertos, cortes, de caminhadas, corridas, vôos, e muitas, muitas palmas. Cerimônia que ela, a “roupa protetora” (deixa “ela” continuar acreditando que me protege, deixa…) e eu, vimos muitas noites e celebramos este encontro que me faz acreditar ser o primeiro de muitos. Isso, a Senhora certamente não imaginava. A vida é assim, imprevisível.
______________________
Funcionário.
BH, verão de 2007.
P.S: Dona Elise, quando passar pelo seu quintal antes de dormir, lembra de dar “Boa Noite” com carinho a cada galinha e apague as luzes para que elas tenham um sono feliz.
Renata Cabral:
AOS SENHORES E SENHORA ESPANCA!
“Que gentileza bruta!” E foi com a sutileza dessas palavras doces e fortes que me encontraram nessa história. Foi com o tempo correndo, correndo, correndo… A “bruteza” foi o susto e a gentileza foi de não me negarem o profundo nessa velocidade. Essa era mais de todo mundo do que minha.
Me lembro dos primeiros ensaios, das caras, dos corpos, do tempo de cada um que não me pertencia, ou não me conhecia… É diferente o contato da cerveja e o contato do olho e do corpo, né? O corpo procurava encaixe naquelas palavras, nos outros corpos, nos acertos do tempo, na corrida, mais do que no espaço, por um espaço. O espaço foi construído devagar, com a paciência daquele que me pedia para ficar um pouco mais. E a gente corria, corria, corria. Em direção a nós mesmos. Falamos de respiração, de emoção, de languidez, daquilo que vamos entender só lá na frente, do que se toca… Mas até onde podíamos nos tocar? Ninguém sabe, acho que até hoje não sabemos. O ser humano é uma coisa delicada, né?
A gente se procurava. Que coisa importante! Não sei. Sinto que nos procuramos até hoje… Um dia tivemos que latir. E como é difícil a bruteza exposta, a bruteza de mim, sabe? Latir naquele lugar foi isso, ter que sentir raiva para não esconder. Eu não podia esconder. Com tempo fui entendendo que latir é mais. É o essencial da vida. O primeiro sopro ou a primeira explosão. É aquilo que precisa ser colocado pra fora pra que as coisas mudem, pra que a vida mude, pra que se caia, mas levante ali na frente.
E pode ser no mar…
Acredito que eu tenha sido um latido em vocês, mesmo rouco. Vocês foram um latido em mim e que veio de mim. Como deve ter sido difícil essa pessoa estranha, espanca! E como eu não senti isso.
Ai, agora eu já não sei de mais nada!
Obrigada!
Mulher.
Samira Ávila:
DO DIA EM QUE VIREI UM BICHO
Lembro do ensaio em que a Grace me deu quatro páginas de xerox do capítulo “A viagem” do livro “Perto de um coração selvagem”, da Clarice. Minha Mulher já sabia cair, mas tinha que aprender a se levantar. Eu tinha dificuldades de encontrar forças pra ela. Achava que ela não tinha mais motivos para seguir em frente, para repetir tudo. Aí eu li o texto da Clarice. Fiquei perturbada com a mulher do coração selvagem. Sempre gostei de cavalos. Queria que o grupo se chamasse “Grupo de Cavalos” e já havia decidido há muito tempo que quando eu tiver um cachorro ele vai se chamar “cavalo”. Já tive um cavalo também quando era pequena, mas acho que era mentira do meu pai. E, sim, Clarice: eu iria me arranjar sendo um bicho. Reli o texto.
“(…)eu serei forte como a alma de um animal e quando eu falar serão palavras não pensadas e lentas, não levemente sentidas, não cheia de vontades de humanidade, não o passado correndo o futuro! O que eu disser soará fatal e inteiro! Não haverá nenhum espaço dentro de mim para eu saber que existe o tempo, os homens, as dimensões, não haverá nenhum espaço dentro de mim para notar sequer que estarei criando instante por instante, não instante por instante: sempre fundido, porque então viverei, só então viverei, só então viverei maior que na infância, serei brutal e mal feita como uma pedra, serei leve e vaga como o que se sente e não se entende, me ultrapassarei em ondas, ah, Deus, e que tudo venha e caia sobre mim, até a incompreensão de mim mesma em certos momentos brancos porque basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho até a morte-sem-medo, de qualquer luta ou descanso me levantarei forte e bela como um cavalo novo”.
Escrevi muito urgentemente alguma coisa atrás de uma das folhas do xerox e fizemos uma improvisação da Cerimônia das Palmas. Era aquilo. A Mulher nunca ficou tão fraca, era extremamente cansativo tentar se salvar. E se levantar não significava ser forte.
“O que nela se elevava não era a coragem, ela era substância apenas, menos do que humana, como poderia ser herói e desejar vencer as coisas? Não era mulher, ela existia e o que havia dentro dela eram movimentos erguendo-a sempre em transição”.
Alexandre de Sena
Gláucia Vandeveld
Grace Passô
Gustavo Bones
Isabel Stewart
Nadja Naira
Renato Bolelli
Alexandre de Sena:
Primeira.
Segunda.
Terceira.
Nos reencontramos e reconhecemos aqui. Neste espaço branco como nos meus sonhos de infância. Árvores, lago, céu, pedras e animais, tudo branco. Neste meu sonho, reeditado e revivido, novamente sonho com uma igualdade inalcançável. Sons que surgem de uma canção igualmente perdida dentro de nossos corpos mudos indicam que o caminho pode ser percorrido… Com calma. Mansidão. Nossas tentativas colorem de branco esta lousa alva. O tempo passava e nós aumentávamos. Ultrapassamos duas mãos. Nossa paisagem a cada dia, incrivelmente mais clara. Para tentar entender o que não se pode querer, somente se entende, fui céu, som, tecido, água, formiga, penas, capacete, cordas… Fomos todos. Uma pitada de tudo. Tudo para aumentar o branco de nossa paisagem. Passamos pelo teste do jornal em branco, das idéias em branco e dos bolsos sem cor. Penso. Colorimos todo dia nossa paisagem. Tenho vivido a alegria de recordar meu sonho de moleque. De vivê-lo acordado. Tendo esta oportunidade, decidi hoje colorir o interior do meu sonho. De vermelho sangue. De quando cortamos nossos membros para nos livrar da dor, de quando perdemos nossos membros e ganhamos um brilho no céu, de quando rasgamos o nosso coração e damos lugar a outras meias para aquecer nossos pés, de quando trocamos nossas letras para sermos mais, maiúsculos. como aqueles que me deram a luz, que nos deram a luz e a plataforma. re-sonho. somos membros que atravessam a nata e descobrem o líquido que ela escondia. vermelho. e debaixo desta nata somos todos habitantes daquela pequena ilha, que percorre o mundo e busca, incansavelmente, a igualdade. que tanto sonho, que tanto busco.
Gláucia Vandeveld:
Tradutora.
Como “traduzir em palavras” as sensações vivenciadas no processo de criação do “Congresso”?
Costumamos dizer que a criação, na sala de ensaio, é o momento mais rico e desafiador de todo processo artístico. É onde podemos dar asas a todas as possibilidades, arriscar sem “medo”.
A recepção carinhosa e envolvente de todos, o interesse verdadeiro, me deram a certeza de que ali naquela sala, já se configurava um processo que viria a se transformar numa experiência enriquecedora e coletiva.
Experimentar sensações, criar situações, vivenciar idéias, abraçar propostas, avaliar erros e acertos, definir temas, o que dizer? como dizer? enfim, encontrar nossos caminhos…
Inúmeras dúvidas nos provocavam, trabalho árduo mas intensamente prazeroso, desafios superados graças a generosidade de todos os envolvidos no processo.
Partilhamos angústias, dores passadas e presentes, nos tornando cada vez mais íntimos; brincamos, nos divertimos, rimos muito… muito. E como acontece no “Congresso”, fomos nos tornando cúmplices, co-responsáveis pelo resultado de nosso trabalho.
Ainda estamos em processo, descobrindo coisas novas todos os dias e sempre. Porque é dessa forma que nos sentimos mais vivos.
Obrigada a todos os Espancados,
Gláucia.
PS: Escrevi minhas impressões no plural porque em momento algum desse trabalho me senti só!!!
Grace Passô:
“Congresso Internacional do Medo” foi uma criação muito rica. E eu sempre suspiro quando os Congressistas filosofam entre si, sussurrando, para não acordar a criança:
“Nágoras disse que a vida é uma grande epifania com pausas gigantescas.
Hiócoles disse que o medo é a véspera da coragem.
Fartre escreveu que o segredo da vontade de viver está dentro de um ovo. Bem como nós.
Putdjawa me disse um dia que a felicidade mora no olho de uma onça. E que a gente, pra ser feliz tem que olhar no olho dela”.
Gustavo Bones:
E NÃO HÁ MELHOR RESPOSTA QUE O ESPETÁCULO DA VIDA
Essa história começou muito antes desse processo. Há muito, conversávamos sobre línguas inventadas, sobre diversidade cultural, sobre como subverter a formalidade de um Congresso. Grace me disse um dia que queria fazer uma peça em que ela escreveria apenas o subtexto dos atores. E que eles inventariam o que dizer. Olha que subversão! Encontrei hoje em meu celular, mensagens que trocamos no mês de agosto de 2005:
Bones: E se no Congresso tivesse um espaço pra perguntas do público que os atores respondessem na hora, de improviso?
Passô: Já vi que a cervejinha com a Tia vai durar muito…
Bones: E se o mediador do Encontro tivesse uma crise de pânico na hora da abertura? Medo de estar em público.
Passô: Adorei, putz! Ele inclusive pode fazer xixi nas calças, debaixo da mesa.
Essas idéias iam permeando nossas conversas, nossas viagens, nossas cervejas. E quando precisávamos nos reencontrar, chamamos um tanto de gente para criar conosco esse Encontro. Aos poucos eles chegaram – cada uma num ritmo, numa freqüência. Vinham de lugares distantes, desconhecidos. Trouxeram um pegador, carregaram uma mesa, me ensinaram uma língua, trocaram meu chuveiro, fizeram uma fogueira e nos esquentaram muito. Fomos cultivando um telhado/antiquário com um enorme balão, produtos Avon, uma peruca de índia, uma tartaruga chamada Paúra, um peixe chamado Procópio, vozes da organização, uma esposa traidora, empadinhas de bobó de camarão, um grupo de dança folclórica, uma música da Nação, alguns hinos nacionais e até um mosquitinho. Tanto que quando giramos a plataforma, já éramos uma família.
Enquanto formávamos essa tribo, a morte nos visitou e foi muito difícil. Sempre é difícil tê-la por perto. Como a febre. E logo nos primeiros rituais, a vida nos respondeu com uma explosão severina: chegou o Davi, primeiro filho do espanca!. Nós vivemos juntos o ciclo natural da vida. E não há proximidade maior que essa. Não há teorema, lei, axioma, tese, teoria que explique o sentimento de vida. O desejo de vida contido no nascimento e na morte também. Então, durante o Congresso, nosso discurso fez-se. Diante de nós. A vida foi muito maior. Nosso conhecimento foi pouco. Nossa técnica foi pouca. Foi mínima, diante do que a vida nos disse:
“E não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
vê-la desfiar seu fio,
que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,
vê-la brotar como há pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é a explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão
de uma vida severina.”
(João Cabral de Melo Neto – Morte e Vida Severina)
Nunca dediquei um trabalho a alguém. Mas em se tratando do Congresso, torna-se impossível não fazê-lo, me desculpem. Este trabalho é dedicado aos meus pais (pela possibilidade de sonhar em outras línguas) e aos meus irmãos (porque a morte não é o contrário da vida). Y a dotos mustedes, Goncresistas-Tafores, chumas grafias.
Isabel Stewart:
…
Dos medos mais privados aos mais coletivos, do medo de galinha ao medo de sentir medo, muito foi pesquisado e discutido durante a montagem do “Congresso Internacional do Medo”. Mas talvez o mais desconcertante tenha sido a experiência do fim: a vida empurrou a morte pra dentro da sala de ensaio de forma tão contundente que me fez sentir medo. Nada de novo sobre nossa condição fugaz no mundo. O que assusta é a indiferença do tempo, que segue independente da nossa presença ou não em seu curso.
A idéia de extinção, de esgotamento, de morte, marcaram todo o processo. Eu me revirei em índia Payá. Ou melhor: em última sobrevivente de um povo. Ao lado do meu irmão Trumak, formamos uma tribo de dois. Somos os últimos, mas não os únicos: outros quatro falam dos mesmos assuntos, com histórias diferentes.
O tempo escuta, mas não pára.
“O correr da vida, embrulha tudo,
A vida é assim…
Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa,
Sossega e depois desinquieta,
O que ela quer da gente,
É coragem…”
(Guimarães Rosa)
Mar à vista.
Mar alto.
Uma arca à deriva num oceano branco. Nela estão cinco exemplares de anônimos de lugares diversos, tentando se equilibrar sobre o convés estreito, para não caírem na imensidão pálida. Restos de pele e floresta. Uma tradutora faz a ponte num bote de rodas. Dois peixes-tempo circulam ao redor.
Mar costeiro.
Um falatório quase interminável. Espécie de congresso flutuante, onde cada marinheiro tenta lançar sua garrafa ao mar, com a esperança de que sua história seja capturada em alguma margem.
Oceano Pacífico.
A água que banha a nau, de tom incrivelmente asséptico, parece não oferecer perigos.
Mar morto.
Até ela surgir filtrada, derramando sua cor mais pura: vermelho-grosélia.
Mar mexido.
Nau desgovernada. Onde está o comandante? Quem dirige o leme?
Pleno mar.
Uma nova vida nasce a bordo. Um bebê, sem falar, muda o rumo da viagem.
Mar de rosas.
A tradutora abandona seu bote de rodas e junta-se aos outros na embarcação. Os tripulantes se reúnem à mesa como uma família. São nomeados: Dr. José, Tusgavo, Tradutora, Reluma e Tusgavito, Trumak e Payá. Foto para a posteridade.
Mar de lama.
Morre a tradutora. Suas últimas palavras são gravadas no horizonte. A comunicação fica comprometida. Quem navega afinal?
Mar aberto.
Os passageiros se voltam para contar o medo ao bebê.
Além mar, os peixes continuam seu curso.
Nadja Naira:
Um grupo de teatro mineiro me chamou pra fazer a luz pra uma Peça de Teatro, cheguei lá em Belo Horizonte era um Congresso, quando começamos as reuniões de criação de cenário, era uma Ópera e de repente tinham uns bailarinos em cena…
E tudo começava assim: “Qual cisne branco em noite de lua…”
Foram dias e dias e noites e noites de montagem de um grande puzzle de peças de tamanhos estranhos e arestas esquisitas, mas num clima tranqüilo e muito, muito caloroso, amoroso e tolerante. Passamos por terras de sonhos, mares de sal grosso, fizemos fogueiras, brincamos de historinhas infantis, fizemos discursos, compartilhamos nossos medos, choramos.
E finalmente, eis aqui nosso CIM, oui, yes, ya, sim, mis…
Ainda ficou faltando a coreografia inicial com os cisnes brancos da Marinha do Brasil…
Renato Bolelli:
CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEDO É UMA EXPERIÊNCIA INTENSA
Quando iniciamos as conversas sobre o projeto, pensava-se em encenar o espetáculo num heliporto. Imagine minha surpresa. E a partir daí deu-se a gestação de algo que abarcasse uma diversidade imensa de informações e ao mesmo tempo pudesse preservar sua liberdade.
Países imaginários, pessoas imaginárias, modos e costumes que começamos a imaginar também. Como lidar com isso? O formato espacial de um congresso, a dificuldade de construir uma cena estática, mesa, cadeiras, palavra, água. O vazio.
Fundos possíveis, imaginados, e algo que surgia com a formalidade do encontro entre estranhos. Cada universo, cada ilha em si, deveria dialogar, buscar construir um território entre. Mesa, cadeiras, palavra, água. O vazio e com ele a cor branca. E assim uma paisagem anulada, devastada, concretizava-se. Podemos imaginar que a espacialidade do espetáculo é dada pela presença da cor, mas também pela ausência de paisagem.
Comecei a me interessar pelos processos de transformação da natureza. Escavação, extração, refinamento. A matéria orgânica até chegar como produto no supermercado. Devastação do mundo, de suas fontes: comida, vestes e conforto como atestado da morte na natureza? O vazio era senão o esgotamento dos recursos. A água de peixes impossíveis, a água de beber, água de matar, a água humana mas a água é do mundo e não do homem.
Seguindo nas correntes ditas evolutivas, o homem apinha-se em mesas, em seus bancos de saber científico, em cadeiras universitárias entre tantas outras e tenta nadar em meio ao que criou. Saídas possíveis? Recomeço ou continuidade? O medo é uma invenção.
espanca!
QUE DURAÇÃO É ESSA DE “ESTAR”?
Marcha para Zenturo, além de uma peça de teatro, é o resultado de uma vivência e convivência complexas, onde a intimidade, os procedimentos, as visões de duas companhias se escancaram na generosa experiência de encontrar, reconhecer e criar com o “outro”. A sala de ensaio tornou-se nesse trabalho a arena de um encontro estético e político onde o exercício da diferença, o olhar sobre o outro, a atração do desconhecido, se revelam como força não só para a realização de um projeto de arte, mas sobretudo para a possibilidade de pensar o homem e as relações que ele estabelece na diferença e na igualdade. Para sua realização, uma série de ações foram desenvolvidas ao longo de uma extensa trajetória de encontros entre Grupo XIX de Teatro (SP) e Espanca! (MG):
Em 2006: apoiado pela Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, o Grupo XIX promove uma série de reuniões-almoços chamadas de “Encontros Antropofágicos” onde grupos de teatro eram convidados a dividirem a mesa tendo como prato principal a discussão e troca a partir de suas trajetórias, projetos estéticos e modos de produção. Em um desses encontros, o XIX recebe o grupo Espanca! para um suflé de frango e uma deliciosa sobremesa de abacate.
Em 2007: O Espanca!, apoiado pelas Leis Estadual e Federal de Incentivo a Cultura, convida o Grupo XIX e a Cia Brasileira para o ACTO 1, edição de lançamento do Projeto ACTO.
Em 2008: o Grupo XIX, apoiado pela Lei de Fomento, propõe ao Espanca! a realização de um mini-processo em que o resultado não seria mais fruto do trabalho nem do primeiro nem do segundo, mas um terceiro trabalho, híbrido, com a potência de um contato estabelecido sem hierarquias e feito do desejo de transformar-se a partir do encontro. Em dois meses de trabalho contínuo nasce o embrião “Barco de Gelo”, um working in progress que se mostra ao público com apresentações na Vila Maria Zélia em São Paulo e no Galpão Cine Horto em Belo Horizonte.
Em 2009 e 2010: Os coletivos decidem encostar o barco e marchar em terra firme. Viabilizados pelo Programa Petrobrás Cultural, criam o espetáculo durante o segundo semestre de 2009 e o primeiro de 2010 (quando o espanca! se muda temporariamente para São Paulo).
Marcha para Zenturo é uma busca pelo sentido do tempo, através de metáforas que o representam: um encontro entre amigos é o que metaforiza o “passado”, já que é tão emocionante, estranho e constrangedor encontrar-se com pessoas íntimas de um tempo que já se foi, nossas testemunhas. O tempo “presente” é representado pelo próprio ato teatral, e é bem simples entender o motivo: essa arte se ocupa de potencializar o presente enquanto ato e linguagem, além do fato de que isso de “apresentar, apresentar, apresentar e apresentar uma peça” é indubitavelmente uma metáfora precisa do “viver, viver, viver e viver todos os dias”. E diríamos que com certeza algum poeta já disse, diz e dirá que fazemos coisas muito parecidas todos os dias, e todos os dias essas coisas serão muito diferentes. O presente, dito “aqui-agora”, é uma sobreposição de passado e futuro, realidade e ficção, memória e projeção, espaço de conversão, transmutação. E, por fim, isso que se diz “futuro”, é aqui representado por um lugar desconhecido pelo qual se luta e se marcha. Este trabalho é também reflexão sobre como o homem se relaciona com o tempo na esfera contemporânea. Essa forma estranha e sensacional de multiplicar espaços, de multiplicar-nos, e vivermos nessa vertigem entre o atraso e o atropelo. Vertigem em que a humanidade avança e também adoece.
grupo XIX de teatro
Nos encontramos, Espanca e Grupo XIX de Teatro, para a experiência de criar juntos, conviver, partilhar espaços, ideias, utopias, e também compartilhar dúvidas, angústias, crises.
Marcha para Zenturo é a materialização desse encontro, um grupo de São Paulo e um grupo de Belo Horizonte. Nele, os dois grupos se fundem para a criação de um só trabalho. A peça foi sendo construída ao longo de atividades de intercâmbio em Belo Horizonte e São Paulo. Todo o esforço caminhou no sentido de tornar real a possibilidade quase remota de dois grupos, com trajetórias e trabalhos distintos, de cidades diferentes, se juntarem num mesmo projeto e criarem as condições para um processo longo – 8 meses em sala de ensaio e mais de dois anos de trabalho para que este projeto não se perdesse. Para além de seus temas e discussões, pensamos hoje que o desafio de criar juntos talvez tenha sido a maior contribuição política deste trabalho. Formulamos um projeto que era ao mesmo tempo espaço do risco, abertura para o “outro”, o diferente, era também arejamento para nossos próprios procedimentos.
Tudo começou quando no ano de 2006, apoiados pela Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, o grupo XIX de teatro pode promover uma série de reuniões-almoços chamadas de “Encontros Antropofágicos” onde grupos de teatro eram convidados a dividirem a mesa, tendo como prato principal a discussão e troca a partir de suas trajetórias, projetos estéticos e modos de produção. Foram quase 16 grupos de todo o país que abriram suas “cozinhas”, suas salas de ensaio, seus escritórios, para falarmos francamente sobre nossos prazeres e dificuldades em se fazer teatro. Era o ano de 2006 e vivíamos talvez um certo auge da ideia de teatro de grupo, tanto como única forma de sobrevivência quanto como crença nesse projeto de coletividade. O grupo Espanca, considerado um grupo “primo” por ter uma trajetória muito parecida com a do XIX, foi então recebido para uma dessas conversas e começamos o namoro, ainda nem imaginando o quão “sério” ele iria se tornar! Em 2007, foi a vez do Espanca! nos receber dentro do Acto I, numa imersão de sete dias na cidade de BH onde os grupos puderam mostrar seus trabalhos, materiais em processo e, sobretudo, refletir e trocar a partir das razões artísticas que movem esses coletivos. Percebemos o quanto a prática é reveladora de um modo de pensar o mundo e o teatro e, nos aproximando do ambiente da sala de ensaio a partir da mostra de processos de cada grupo, intuímos que apenas numa troca criativa teríamos uma real experiência de encontro. Em 2008, o XIX propõe ao Espanca a realização de um mini-processo em que o resultado não seria mais fruto do trabalho nem do primeiro nem do segundo, mas seria uma terceira coisa, nascida do encontro, híbrida, com a potência de um contato estabelecido sem hierarquias e feito do desejo de transformar-se a partir do outro. Neste momento, o XIX já ansiava por explorar outros modos de criação e já sentia um certo esgotamento na sua forma colaborativa de construção da dramaturgia que gerou seus três primeiros trabalhos. Nos pareceu que a experiência do Espanca em relação a esse terreno, por ser muito diferente da nossa, nos apresentaria um novo horizonte. Ficamos dois meses em trabalho contínuo, discutindo, improvisando, tateando o outro grupo e se esforçando para avançar com delicadeza para que nenhum grupo se impusesse ao outro. Desta escuta e desse prazer de jogar num terreno novo, nasce o embrião “Barco de Gelo”, um work in progress que se mostra ao público em apenas 8 apresentações na Vila Maria Zélia em São Paulo e duas no Galpão Cine Horto em Belo Horizonte. A história terminaria aqui já que nenhuma determinação prévia exigia que esse experimento se tornasse um espetáculo. Mas, este momento, o ano de 2009 mais precisamente, marca um período importante para o XIX onde um estado de crise faz o grupo questionar seu modo de produção, seu rumo estético, as relações que tinha conseguido criar até ali. É um ano também onde pululam em vários lugares o desejo dos grupos trocarem uns com os outros, sentindo talvez a mesma necessidade de arejamento. Muitos coletivos que eram “jovens” no momento do movimento Arte contra a Barbárie (movimento que mudou o panorâma do teatro de grupo na cidade de São Paulo), agora já estão completando 10, 15 anos de trabalho e sentem a necessidade de rever muitos de seus conceitos para abandoná-los ou para reafirmá-los a partir de uma convicção renovada. E é este quadro que nos faz acreditar que criar um espetáculo junto com o Espanca seria o melhor caminho. Confirmado o desejo recíproco, tivemos, desta vez, mais 6 meses em sala de ensaio. Os mineiros se mudaram para São Paulo e por este período vivenciaram e ocuparam conosco a Vila Maria Zélia. Agora já não era um processo “descompromissado”. Tínhamos a tarefa de criar a quarta peça de cada um dos grupos e as decisões agora seriam mais definitivas: os temas, o discurso, a forma. Tudo se torna um território de embate político, de aprendizado com o outro, do exercício de construir algo juntos.
Marcha para Zenturo é fruto dessa trajetória, desse encontro e, contraditoriamente ou não, fala justamente de desencontro, da dificuldade em se compartilhar o tempo presente. Parece difícil estar, realmente, no presente. As vezes, as percepções se dão mesmo com certo “delay”. Ainda buscamos entender o que é o nosso “Zenturo”, o que conseguimos dizer sobre o nosso tempo ao falar de um futuro distante em 2441. Em cena, amigos que não conseguem partilhar o instante, um grupo de teatro que cumpre um ciclo, uma janela para a esfera pública onde uma multidão marcha para (ou por?) Zenturo. Quem marcha? Pelo o quê marcha? O que ainda pode reunir pessoas? Porque estamos nós, olhando por essa janela, sem nos juntar a massa? Sem nem, ao certo, saber dizer o que ela busca? Hoje, para o XIX, no nosso “delay”, vamos amadurecendo nosso sentimento em relação ao espetáculo. E, como nunca, percebemos que não são as personagens, mas nós mesmos, artistas, grupo de teatro, que olhamos por essa janela e encaramos o público com muito mais perguntas do que respostas. Para nós do XIX, Marcha para Zenturo nos coloca diante da importante questão de como ocupar o lugar público, o que dizer do nosso tempo presente. A peça aponta o teatro como esse espaço possível de encontro e fala da arte como esse algo “que talvez possa curar alguma agonia do homem”, mas tudo isto, em nosso “Zenturo” se apresenta como algo ameaçado, em crise. E, certamente, isso não fale só de “Zenturo”, lá em 2441, mas do nosso presente também.
Diretor e dramaturgo argentino, Daniel Veronese iniciou sua carreira como ator e marionetista. É um dos fundadores do grupo El Periférico de Objetos, companhia com uma pesquisa fundamentada na integração entre atores e objetos. Baseando seu trabalho na atuação e na busca pela síntese dos efeitos da cena, Veronese é hoje uma referência da produção contemporânea nos circuitos teatrais do mundo, sendo autor de uma ampla obra publicada e dirigida.
Quando um grupo se movimenta, corpos-lixo se amontoam e paralisam cidades maravilhosas. Toda multidão é um bololô desgovernado.
Provocações textuais: Byron O’Neill
Direção Coletiva
Elenco: Alexandre de Sena, Allyson Amaral, Assis Benevenuto Vidigal, Gustavo Bones, Karina Collaço, Leandro Belilo, Marcelo Castro e Michelle Sá
Música: Rafael Martini
A Inclemência do indizível, de Antonia Pereira Bezerra
Impermanências lamacentas, de Júlio Groppa
Grupo Espanca! mantém excelência na segunda peça, de Sérgio Sálvia Coelho
Por Elise e Amores Surdos: poéticas textuais, de Marcos Antônio Alexandre
Antonia Pereira Bezerra:
A INCLEMÊNCIA DO INDIZÍVEL
Publicada no Painel Crítico do Festival de Teatro de São José do Rio Preto em 14/07/07
O Espetáculo Amores Surdos do Grupo Espanca, Belo Horizonte/MG, simula uma estrutura inicial previsível. Digo simula, porque esta estrutura aparentemente previsível é profundamente abalada, segundos após o início do espetáculo. Como num crescendo, o jogo dos atores – de uma simplicidade aterradora – não cessa de sacudir o espectador. Na verdade, a forma como o Grupo Espanca nos conta a história de “uma família comum, composta por um pai ausente, uma mãe zelosa, um caçula e mais quatro filhos – Grazieli, Joaquim, Samuel e Jr”, surpreende e interpela o espectador com sua poesia cortante e sua ironia desconcertante.
A Trama de Amores Surdos se desenvolve numa espécie de Hu is Clos (Entre quatro Paredes), onde as personagens empreendem embates e combates aparentemente rotineiros e banais – como parecem ser os embates e combates empreendidos por todas as famílias normais. Curiosamente, o que se desenvolve sob os olhos estranhados do espectador é apenas um artifício. Amores Surdos grita o indizível numa sorte de desespero agudo, sensível.
Seguindo essa progressão, tudo ou quase tudo é velado. O essencial nunca é explicitado. É apenas sugerido pela narração ou pelo extraordinário jogo dos atores. Magníficos atores! Essas sugestões sutis, porém desconfortáveis, têm lugar logo de entrada, quando um ator se dirige ao público, advertindo-o de que a família receberá um telefonema de um irmão que partiu para o estrangeiro e que um desses telefonemas será para dizer que esse irmão suicidou-se. O telefone toca no final da peça – se é que a peça tem fim! – e o irmão caçula, sozinho em cena, não atende, permanece estático, diante do público, na treva.
Numa mesma perspectiva, a verdadeira sujeira – a lama, vaza das estranhas entranhas da família, ultrapassa a parede velada, irrompe o palco e se epalha aos olhos de todos! O público desconhece a origem e causa dessa lama. Ela emerge à superfície como que diretamente eclodida das profundezas do inconsciente coletivo (familiar). É nas discussões explosivas acerca dessa sujeira que o irmão caçula acaba confessando a presença de um hipopótamo dentro de casa. Ele cria um hipopótamo há cinco anos e esse monstro, supostamente, devorou o chefe da família – o Pai. Estranho e belíssimo eco com Os Rinocerontes, de Ionesco.
Amores Surdos pode ser lido como uma balada absurda regida sob a batuta de um realismo-naturalismo limítrofe. E já que tocamos no domínio do realismo-naturalismo, assinalemos as cenas do irmão Samuel, enclausurado do lado de fora, desesperado, sem acesso à casa. Um Tenensee Williams revira do. Um Zoológico de Vidro (A margem da Vida) às avessas. Samuel vive pateticamente à margem dessa família. Ele quer entrar, mas não tem a chave. Ninguém lhe abre a porta. Mesmo do lado de fora, ele tenta acompanhar o ritmo da família: seu sapateado é de uma tristeza poética cortante! De uma beleza patética tocante!
Sob todos os aspectos Amores Surdos coloca mais questões do que respostas, mais problemas do que soluções. Saímos do espetáculo com inúmeros enigmas, dentre os quais:
Que lama é essa que jorra da intimidade dessa família?
Que indizível inclemente é este que traz à luz o que estava oculto e deveria permanecer oculto?
Reconhecer essa sujeira, aceitá-la, como propõe a personagem da Mãe – têm coisas com as quais a gente precisa viver” – nos purificaria? Nos tornaria mais leves? Talvez! O fato é que, após a incontinente crise da Mãe, os filhos decidem por não matar o hipopótamo – o monstro – e iniciam angustiados e resignados a limpeza da lama.
Do ponto de vista técnico, um outro insolúvel e agradável enigma se impõe, desta vez no plano da interpretação dos atores: que jogo é esse que, ao misturar as linguagens – absurdo, realismo, music hall dentre outros ecos, provoca tanta estranheza, tanto fascínio? Bendito hibridismo! Bendito Grupo Espanca!
Júlio Groppa:
IMPERMANÊNCIAS LAMACENTAS
Publicada no Painel Crítico do Festival de Teatro de São José do Rio Preto em 14/07/07
Se, tal como a mítica cristã se esforça em nos convencer, seríamos barro e sopro, tidos como matéria de uma permanência transitória que costumam intitular existência, o grupo mineiro Espanca!, com Amores Surdos, prova o inevitável contrário. Somos lama, espasmo e nada além: substância precária e instável daquilo que se chama vida. E entre existência e vida não há sinonímia necessária, nem suficiente. Não pode haver. Vida é expansão desenfreada, vibrátil, nômade, que ultrapassa o existir e seus limites obtusos. Ultrapassagem de si, sem trégua e sem perdão. Barro em estado de liquefação, convertido em fluidos lamacentos, escorrendo ao léu. Impermanência pura, pois.
E é no interior de uma das práticas humanas mais cooptadas pela reiteração e pelo ensimesmamento (o universo familiar e suas estereotipias) que Amores Surdos vai subtrair um sentido de estranheza e insta bilidade do viver ali disposto. Melhor dizendo, vai decretar um significado intensivo para as formas de vida que lá se desenham dramaticamente.
A peça desloca e desfixa, por assim dizer, um território identitário que se alega em crise constante, mas que persiste incólume em seu encapsulamento contra o mundo: as mães persistem morrendo de medo de barata, os pais persistem com medo de ladrão, ambos persistem jogando inseticida pela casa, botando cadeado no portão – na acepção precisa de Arnaldo Antunes.
No universo de Amores Surdos, ao que parece, inseticidas e cadeados não bastam para proteger aqueles cinco do mundo; este os invade com seus sons, seus apelos. É um universo atravessado pelo tempo presente e seus contra-sensos. Não obstante tal conjuntura, e por mais cronicamente inviáveis que se apresentem de largada, as relações entre as personagens exalam amor na chegada. Amores brutos, amores perros.
Daí a pendência do título. São amores, sim, mas não são surdos. Neles nada há de deficiência ou falta. Ao contrário. Se tomados como índice da necessária impermanência da vida, nada lhes falta. Surdos, cegos ou paralíticos, serão sempre amores, e isso lhes basta, ou deveria lhes bastar, já que se trata de uma das coisas “que foram feitas para se viver com elas” – a mais fundamental, talvez.
Ainda, pelo fato mesmo de os amores serem sempre o que são, as personagens exuberam continência uma à outra. Todas se afetam mutuamente, co-habitam o espaço cênico entremeadas e confundidas em e por suas estranhezas. Estão ali para serem testemunhas e co-participes do viver sob o mesmo teto, sob o mesmo nome e, em última instância, sob a mesma lápide, a qual se ensaia com a partida iminente de um deles.
Trata-se de amor tão-somente: substantivo solitário, prática ermitã, análoga ao “pó das frestas” de que fala uma das personagens. Uma esp écie de esplendor banal incrustado no cotidiano e do qual pouco (e poucos) nos damos conta.
Assim, o atual trabalho do grupo Espanca! resulta tão instigante quanto acalentador, já que finda por ofertar opulência e, ao mesmo tempo, delicadeza à platéia durante a breve hora de duração do espetáculo. Breve porque condensada, ágil, intensa.
Sem delongas, o espetáculo é de uma beleza tocante.
Poder-se-ia contra-argumentar que haveria irreverências mal-colocadas; que faltaria uma leve lapidação do texto; que haveria elementos cênicos discutíveis; que uma maior sobriedade interpretativa, algumas vezes, seria bem-vinda; que, outras vezes, a música não soaria inteiramente convincente. Nada disso importa. O que conta é o lastro dramático que sustenta o espetáculo, o qual ganha corpo à moda da lama que invade lentamente o palco e os corpos dos atores.
Talvez isso se deva, ao menos em parte, à presumível mão forte da dramaturgia. Nenhuma outra analogia seria mais apropriada do que aquela em que, em cena, a dramaturga (e também atriz) carrega no colo, literalmente, um dos atores meio metro mais alto do que ela. É a expressão mais fidedigna, ao que parece, da vontade de potência que emana de seu texto.
Igual destaque deve ser atribuído aos outros quatro jovens atores – todos indiscutivelmente competentes. Entretanto, deve-se ressaltar que aquele que interpreta Samuel (Marcelo Castro) tem uma atuação primorosa, privilegiada talvez pelo efeito cênico de sua clausura transparente, a qual emoldura uma extraordinária força vital de seus gestos, de seu modo de estar no mundo e no palco. Personagem e ator em arrebatadora consonância. A vida em sua melhor forma (artística), pois.
Por fim, que se saiba: no meio do caminho tinha um hipopótamo; tinha um hipopótamo no meio do caminho. Dele vertiam lama e espasmos. Nada além? Impermanência, talvez.
Não, definitivamente essa história não havia sido contada antes.
Sérgio Sálvia Coelho:
GRUPO ESPANCA! MANTÉM EXCELÊNCIA NA SEGUNDA PEÇA
Publicado na Folha de São Paulo em 07/02/08
Em arte, quando a consagração vem já na primeira empreitada, a segunda pode ser um pesadelo. O Grupo Espanca!, por exemplo.
Tendo estourado inesperadamente com “Por Elise”, no Festival de Curitiba de 2005, e multipremiado pelo Brasil afora, o seu segundo espetáculo gerou uma forte expectativa: seria sorte de principiante?
O problema é que, se o espetáculo “Amores Surdos” fosse muito diferente do primeiro, daria a impressão de falta de projeto, de franco-atiradores em busca de fama.
Esperava-se uma fábula sutil, como a primeira, com frases aparentemente ingênuas que iriam ganhando sentidos cada vez mais profundos, a cada leitura. Mas, no entanto, se fosse muito parecida, diluiria o impacto inicial: o grupo estaria seguindo uma fórmula rentável.
Diário de criação
Acontece que nada é por acaso no Espanca!. Basta checar no blog do grupo o detalhado e bem escrito diário de criação de “Por Elise”.
Desde o primeiro ensaio, de 2005, o grupo busca em conjunto uma linguagem não necessariamente nova, mas que sirva para eles contarem o que precisam contar.
Por isso, mais do que comparar um espetáculo com o outro, é revelador comparar a atual temporada de “Amores Surdos” com a de 2006, no Sesc Pompéia.
O texto nunca deixou de evoluir, as marcas se tornaram mais essenciais e precisas. O que parecia uma referência excessiva ao universo de Ionesco (uma espécie de síntese entre “Rinoceronte” e “Amadeu ou Como se Livrar Dele”) tornou-se uma fábula orgânica, extremamente pessoal, combinando o pueril com o visceral – como na montagem de “Por Elise”.
Desta vez a direção não é mais da autora Grace Passô, mas de Rita Clemente. Com isso, o grupo ganhou uma estética um pouco diferente, com incorporação de um cenário quase realista – e um pouco desajeitado – e marcações mais abstratas.
No entanto, a interpretação dos atores não deixa nunca o espetáculo se tornar hermético ou aleatório.
A força do elenco
Assim, Paulo Azevedo, um ator de grande altura, faz o papel de “Pequeno”, o frágil irmão mais novo, sem evitar o grotesco, mas sem cair no ridículo, em performance inesquecível.
Passô reitera sua função materna, com a força habitual, mas desta vez a função de narrador é feita sobretudo por Gustavo Bones, o irmão que, sonâmbulo, se dirige à platéia, em divertido truque metalingüístico.
Marcelo Castro, com um personagem menos definido (o irmão que não consegue sair de casa) e Mariana Maioline (a irmã alheia), com menos experiência de atriz, completam o elenco de grande cumplicidade em cena.
Comédia? Tragédia? Bufonaria? A dificuldade de se pôr um rótulo em “Amores Surdos” é a garantia de que muito ainda virá do Espanca!.
Um conselho apenas: não se apresse em aplaudir na cena final, no escuro. O final é desnorteante.
POR ELISE E AMORES SURDOS: POÉTICAS TEXTUAIS, de Marcos Antônio Alexandre
publicado no Dossiê Espanca do site Horizonte da Cena em setembro de 2015
Dona de Casa: Historinha eu tenho mil. Poderia contar várias aqui para vocês. Tem a da senhora que brotou uma alface no meio do corpo dela. E ela se abriu para a vida. Essa é ótima. Uma das melhores que já ouvi por aqui. Tem a daquela mulher que estava triste andando na rua e caiu no bueiro: só que lá dentro encontrou um homem na mesma situação. E então eles ficaram alegres. Olha que loucura. […] E há outras histórias sobre moradores daqui… como dizia o Valico: “histórias vitalícias” Oh! Valico.
Ela se lembra do Valico.
Dona de Casa: Ele teve um enfarte no coração e durante o enfarte começou a dizer, me dizer uma porção de palavras bonitas e espontâneas. A vida dele se enfartou e ele teve um ataque de lirismo. Eu juro. Muitas das coisas que eu falo aqui são dele, que gravei daquele momento.
[…]
Cai, vindo do alto, um abacate próximo a Dona de Casa. Ela sente medo.
Eu sou aquela que há alguns anos plantou um simples pé de abacate no quintal de sua casa. Ele cresceu. E então eu vivo assim. Assim! (ela sente medo) Cuidado com o que planta no mundo! Mas por aqui, como eu, existem outros moradores desprotegidos, mesmo com cães dentro de casa. Companheiros de muros: muros de tijolos, muros de pele. Sabe “proteção” é mesmo bem importante. Eu, por exemplo, sempre quis colocar colchões largos em volta do pé de abacate de minha casa. […] (PASSÔ, Por Elise, 2012, p. 14-15)
Joaquim: Boa noite. Obrigado por terem vindo. Desculpem começar assim, cortando o sonho de vocês, mas para que tanto suspense? Todas as histórias do mundo já foram contadas. Essa é só mais uma história de uma família comum, que toma café, em que um briga com o outro, em que um adoece, enfim: com nossos problemas cotidianos. No começo, este telefone vai tocar, porque meu irmão, que mora longe, está com muitas saudades de nós. Depois nós vamos ficar aqui, convivendo com nossos hábitos particulares; até que no final o telefone vai tocar novamente, nós vamos atender e receber a notícia de que meu irmão se suicidou. A nossa história é essa.
Vocês são grandes, eu sou grande, ninguém aqui é Pequeno… todo mundo aqui sabe onde está. Todos sabem que amanhã eu vou repetir as mesmas coisas que eu estou falando agora. Todos sabem que amanhã eu vou entrar nesse lugar e dizer:
Boa noite. Obrigado por terem vindo, mas todas as histórias já foram contadas… […]
É isso: todas as histórias do mundo já foram contadas… Vocês sabem: em alguma hora, um celular vai tocar aí (apontando o espaço da plateia), algumas pessoas vão pensar: “Nossa, que falta de educação deixar o telefone ligado aqui!” Aí o dono ou vai desligar seu telefone para ser fiel à educação que sua família lhe deu, ou vai, sem culpa, atender, falando baixo: “Oi, tô em outra realidade! Depois te ligo!” […] (PASSÔ, Amores Surdos, 2012, p. 18-19)
“Há que ser imparcial ao voltar o olhar para uma produção artística”, reza o manual de crítica tradicional. Não obstante, na minha concepção analítica, esta característica sempre é – ou deveria ser, em nível geral, – colocada em xeque, pois, em primeiro lugar, só me proponho a discorrer sobre algum trabalho artístico pelo qual sinto algum tipo de identificação e há que se destacar que as identificações nem sempre estão no âmbito do positivo. Em segundo lugar, considero que todas as propostas espetaculares apresentam aspectos positivos e negativos que merecem ser destacados. Não vejo sentido evidenciar os aspectos negativos quando não for para favorecer ao crescimento do trabalho do grupo que está recebendo a minha leitura.
Neste sentido, falar sobre o trabalho do Espanca é um privilégio, pois a minha relação com o grupo está dentro do universo dos afetos que tanto prezo. Apesar de meu objetivo aqui ser manifestar o meu olhar crítico, não me privo de destacar as minhas subjetividades pelo fato de considerar o grupo um dos coletivos favoritos dentro do contexto mineiro. Diante de seu já vasto repertório, elejo para esta breve reflexão os seus dois primeiros trabalhos, “Por Elise” e “Amores Surdos”, pois se tratam de encenações singulares que me permitem refletir sobre distintas possibilidades de leituras: os espaços intervalares da memória, os lugares de representação das identidades dos sujeitos e de suas subjetividades na contemporaneidade, o teatro pós-dramático, ecos de um realismo mágico.
A peça “Por Elise” foi escrita, em 2005, por Grace Passô, durante o processo de criação do espetáculo, em parceria com os atores Gustavo Bones, Marcelo Castro, Paulo Azevedo e Samira Ávila, sendo que esses últimos autores foram substituídos posteriormente por Sérgio Penna e Renata Cabral. Por sua vez, Amores Surdosestreia em 2006. No elenco, além da autora, Grace Passô, Gustavo Bones, Marcelo Castro, Paulo Azevedo e Samira Ávila, que foram substituídos, respectivamente, por Assis Benevenuto (que assume a personagem Joaquim, interpretada na primeira montagem por Gustavo Bones, que, por sua vez, passa a interpretar a personagem Pequeno) e Mariana Maioline, em 2009.
Em nossa contemporaneidade, muito se discute sobre teatro pós-dramático e os argumentos e proposições de Hans-Thies Lehmann. Patrice Pavis, no artigo “Teatro Pós-dramático” (2014), traça um panorama sobre o conceito, apresentando as origens, alguns problemas, desafios e encorajamentos. O crítico elenca quatro desafios, entre os quais, para esta reflexão, destaco “a heterogeneidade”:
o dramático (o textual) e o cênico (o performativo) estão claramente imbricados; daí resulta um objeto artístico e uma noção teórica (o PD) bastante heterogênea, entretanto adaptada às obras e ao mundo com o qual nos relacionamos. Nenhuma teoria dos gêneros dramáticos, e ainda menos uma teoria das práticas cênicas, seriam capazes de incluir todos esses espetáculos.
Os diferentes espetáculos (performances) do PD não se definem por uma essência ou por características comuns, mas sim por práticas cênicas e sociais radicalmente diferentes umas das outras. Não somente a representação é a soma heterogênea das artes, dos materiais, ou dos discursos, mas eles próprios são heterogêneos e não específicos […] (PAVIS, 2014, p. 16)
Julgo pertinentes as considerações de Pavis pelo fato de o crítico se mostrar consciente da imbricação, da heterogeneidade e das diferenças que se fazem presentes entre as propostas espetaculares contemporâneas. No caso dos espetáculos aqui discutidos, apesar de distintos, considero que ambas as encenações foram produzidas com referências nos argumentos expostos por Pavis, trazem elementos que dialogam entre si e, por sua vez, são estas singularidades que me interessam.
Se, em “Por Elise”, temos a figura emblemática da personagem Dona de Casa que inicia o espetáculo anunciando que “tem mil histórias para contar” e, como uma “narradora brechtiana”, abre um leque de poéticas textuais que passam a ser divididas com os espectadores; em Amores Surdos, temos a presença de Samuel, que abre o espetáculo lendo uma carta cifrada e rebuscada: “Sabeis o quanto o dia a dia encerra os nossos sentidos, desenha nossas almas no hábito e, portanto, o quanto a vida cá nessas quatro paredes não é doce, branda ou suave. […]” (p. 17), que tudo indica haver sido enviada pelos vizinhos moradores do apartamento superior com os quais a família não estabelece uma relação “amistosa”; para, em seguida, entrar em cena a personagem Joaquim, que como um contador de histórias “contemporâneo” – por que não pós-dramático? – também quebra – brechtianamente – o pacto ficcional, revelando ao espectador um dos desfechos da trama – a morte do irmão em um país estrangeiro longe da família. Assim como em “Por Elise”, sentimentos de solidão, medo, incapacidade e incomunicabilidade são evidenciados também em “Amores Surdos“.
Os sentimentos, subjetividades e as identidades fragmentadas de cada personagem são desvelados nas ações físicas e na atuação de cada ator. Em Por Elise, uma Dona de Casa, a suposta Elise, uma mulher contadora de histórias (uma griot), aquela que sabe a história de todos, mas não é capaz de lidar com a sua, que cria galinhas, mas tem dó de matá-las; um Funcionário, que se veste com uma roupa que tem uma proteção de espuma, pois trabalha lidando com cães, não se envolve com as coisas que o rodeia, junta dinheiro para ir para o Japão e tem a função de sacrificar o Cão (Homem-Cão) da personagem Mulher, uma jovem, vestida de vermelho, frágil, sensível, que tem no seu cão a única possibilidade de afeto e tem o seu caminho cruzado pelo Lixeiro, que corre o tempo todo atrás de um caminhão de lixo, imaginando que o mar é o seu horizonte, a possibilidade de fuga, de viagem, de encontros. Talvez, esta personagem represente a utopia. A presença da personagem Homem/Cão na trama é fundamental para o desenvolvimento e desenlace da obra. Se, em princípio, ela possa ser vista e interpretada apenas por um ator vestido com um moletom marrom, sua movimentação, ao longo do desenvolvimento do espetáculo, vai alternando com ações tipicamente humanas – andar sobre as duas pernas e beijar a boca das outras personagens, que traz uma forma de manifestação do afeto humano e, ao mesmo temo, remete às lambidas, que são uma demonstração de afeto dos cães. Os trejeitos trazidos para as cenas também nos remetem aos de um cachorro: os latidos (palavras/brados/poéticas textuais) próprios de um cão, brincadeiras (partituras) corporais como saltar ou bater as mãos (patas) em sua dona. Com a interpretação do Homem/Cão, Marcelo Castro assume as características de um ator-performer, aquele que Pavis se refere como ator pós-dramático:
O ator PD é um ator performador: o performador não tenta construir nem imitar um personagem, ele se situa num cruzamento de forças, dentro de um coralidade, inserido num dispositivo que agrupa o conjunto de suas ações e de suas atuações físicas. Ele se apresenta como uma simples presença da pessoa tendo subtraído o personagem, ou como numa competição de resistência vocal e física (Pollesch, Castorf). Ele não é mais obrigado a entrar nas emoções do espectador por meio da imitação ou da sugestão de suas próprias emoções (Einfühlung), mas segundo a feliz formulação de Roselt, ele deve sair da identificação (Ausfühlung), abandonando o pântano da simulação das emoções, para alcançar as suas próprias emoções, tal qual um desportista, um intérprete musical, um membro de coro, um técnico ao serviço não da imitação humana e de uma ilusão teatral, mas de um coletivo de enunciação.
Na minha leitura, o ator-performer e sua personagem atuam no limiar entre o representacional e o ficcional, jogando com uma tessitura corpórea, deixando que os espectadores se sintam envolvidos pelas poéticas textuais sugeridas por cada cena, que todos se vejam embebidos pela “ilusão teatral”.
Estas poéticas textuais se manifestam em outras partes da encenação como no momento em que o público presente – ou pelo menos parte dele – reconhece, por meio de uma reminiscência de memória, uma música que lhe é familiar: a mesma de um caminhão de gás que passava na porta da casa onde residia em um bairro da periferia de Belo Horizonte ou de uma cidade do interior das Minas Gerais, ou seja, trata-se da música “Pour Elise”, de Beethoven. Estas subjetividades se corporificam nos diálogos entre a Mulher e a Dona de Casa e, dentre tantas pérolas poéticas ditas, eclode a fala da Mulher, um jorro de melancolia: “O caminhão de gás. Que música bonita para se comprar gás chorando, não é?” (p. 53). A sequência é um dos momentos mais belos da encenação:
Mulher experimenta para si a Cerimônia das Palmas, enquanto se ouve a música ‘Pour Elise’, de um caminhão de gás que passa por ali.
Mulher procura sua força. Faz a sua Cerimônia das Palmas.
Mulher: Eu sou forte, como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. Eu sou forte, como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar! Deus, eu não vou lhe incomodar. Eu juro. Pode ficar aí. É só pra ficar olhando. Eu vou me levantar daqui sozinha e vou voltar a correr porque é da Ordem. E, se for necessário, eu vou começar tudo de novo. Vou acordar de manhã, fazer o café e ligar a secretária eletrônica, o alarme, e vou colocar cacos nos muros, e olhar meu jardim e correr novamente. Porque eu sou forte, porque eu sou forte.
Ela chora. Ela chora.
Mulher: E vou criar outros instantes e ninguém vai perceber que estou criando, porque todos vão se envolver! TODOS! E que venham os fins, que venham todos os fins, porque eu sei recomeçar, eu sei! Quem respira por mim? Quem respira por mim? Porque eu sou forte, como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. CORRENDO EM DIREÇÃO AO MAR. CORRENDO EM DIREÇÃO AO MAR. CORRENDO EM DIREÇÃO AO MAR! (p. 54-55, maiúsculas do original).
As palavras ressoam em tom de lirismo e de prédica e desvelam um fluxo de pensamento em que a subjetividade da personagem é apresentada, em princípio, de forma desconexa, mas, em seguida vai ganhando contornos de esperança, de desejo de mudanças e, novamente, o mar é a metáfora que representa esta possibilidade de transformação.
Ao final, depois de o espectador entrar em contato com as identidades fragmentadas de todas as personagens, depois de conhecer as fragilidades dos sujeitos em seus encontros casuais e por meio de suas histórias entrecortadas, fica latente o latido-bramido do Homem-Cão, que encerra, alegoricamente e em tom didático, o espetáculo: “CUIDADO. CUIDADO COM O QUE TOCA. COM A CAPACIDADE QUE GENTE TEM DE SE ENVOLVER COM AS COISAS. COM O AMOR, QUE ESPANCA DOCE. CUIDADO. FAÇA ISSO POR MIM. POR MIM! POR MIM! POR MIM!” (p. 57, maiúsculas do original).
Os sentimentos também podem ser considerados um dos motes da dramaturgia e da encenação em Amores Surdos. O pacto estabelecido com a personagem Joaquim logo ao início da encenação, além de revelar ao espectador que o irmão, que vive em outro país, irá morrer durante a encenação, como já foi descrito, também deixa transparecer que ele é sonâmbulo e é o seu sonambulismo que passa a desvelar as subjetividades de toda a família, composta por ele, o filho mais velho, que tem uma relação mal resolvida com a Mãe; o Pai, Vicente, que é citado o tempo todo durante a encenação, mas não aparece; a Mãe, superprotetora e controladora de toda a família, carinhosa em alguns momentos e, em outros, ríspida com os filhos; Samuel, frágil e inseguro, vai começar o seu primeiro dia de trabalho, mas não se sente seguro para encarar o mundo exterior à sua casa; Graziele, uma adolescente, que usa o tempo todo um headphone que ganhou de presente do irmão que vive fora, ela “está na fase em que imagina a vida como um clipe de música (p. 23); Pequeno, tem crises de asma, recusa-se a calçar os sapatos, é apaixonado pela menina do apartamento de cima, tenta durante toda a encenação contar à família um segredo: “Mãe… Sabe naquele “quando” que eu botei gesso no braço? […] É que… Nada não… (p. 33)”; Junior, o irmão que vive em outro país, liga para casa constantemente demonstrando que se encontra extremamente solitário: “Alô, Junior? Como vai? […] mas por que está com essa voz/ Júnior! Você está chorando? Calma, o que você tem? que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu? Junior!” (p. 50), um vetor que justifica e nos permite entender depois a suposta morte anunciada pela personagem Joaquim.
A relação com Os Rinocerontes (1959), de Ionesco e um possível diálogo com a estética do absurdo tornam-se evidente na dramaturgia e na encenação de Amores Surdos. No entanto, prefiro destacar, nesta leitura, ecos do Realismo Mágico – assim como os vislumbro, em Por Elise, nos abacates que pendem e caem do teto e, poeticamente, provocam, espancam palavras doces como aquelas deixadas para o filho pela personagem Valico quando, enfartando, poetiza: “OH VIDA, FARPA DE MADEIRA INTENSA! A NATUREZA NÃO É DOCE, OS FRUOS É QUE SÃO” (p. 25, maiúsculas do original) – quando Pequeno revela à família que trouxe um hipopótamo do zoológico, que, no começo ele o colocava sua piscininha, mas o bicho cresceu e ele acabou o deixando no quarto do irmão Júnior. A sua ideia era aprender a respirar com o animal, pois os hipopótamos têm um pulmão enorme, assim ele se curaria de sua asma. Pequeno revela que William, nome que deu ao seu bicho de estimação, já vivia com a família há cinco anos e que havia comido o Pai logo quando chegou ao apartamento. Apesar de uma história “surreal” (no sentido trivial da palavra) e fantasiosa que parte de uma perspectiva de uma criança, como em uma narrativa de Gabriel García Márquez, os conflitos da família e a figura alegórica do animal se fazem críveis aos olhos do espectador. O universo do realismo mágico (maravilhoso) se configura: desprender-se da realidade por meio de uma história, em princípio “fantástica”, descrita de forma “realista” dentro de uma narrativa, neste caso, dentro das ações dramatúrgicas.
Quando é relevado que o hipopótamo engoliu o Pai, a família, que em si já era desestruturada, fica em pânico, Joaquim quer matar o animal: “SE NÃO MATARMOS, ELE VAI ENGOLIR MAIS UM DE NÓS!” (p. 62, maiúsculas do original); Graziele teme pelo irmão; Samuel, mais uma vez, volta para casa, pois não consegue sair para enfrentar o primeiro dia do trabalho e insiste tocando a campainha, chorando desesperadamente, implorando para que lhe abram a porta; a Mãe, num primeiro momento, bate no Pequeno, grita. Tudo isso acontece em um ritmo que vai crescendo ao som de uma música erudita (uma alusão à família dos vizinhos que ouvem música orquestrada muito alta, são cultos, mas não se entendem), em que eclode o sentimento de incomunicabilidade entre todos os membros da família. Até que a Mãe, finalmente, toma para si a responsabilidade:
Mãe: (digna, surpreendentemente forte) NINGUÉM VAI MATÁ-LO. ESSA É A NOSSA REALIDADE. TEM COISAS QUE NÃO SE MATA. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. ESSA É NOSSA REALIDADE, NÃO SE ARRANCA A COLUNA POR CAUSA DA DOR NAS COSTAS, O GRANDE BICHO VAI CONTINUAR AQUI, NESSA CASA, DENTRO DE NÓS. DENTRO DE NÓS. NINGUÉM VAI MATÁ-LO. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. (p. 62-63, maiúsculas do original)
Assim como em Por Elise, na fala da Mãe, a repetição aqui ecoa nos sentidos do espectador e essas “COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS” assumem conotações múltiplas em nossa contemporaneidade, assim como a lama que vai “sujando” o figurino dos atores/personagens aos poucos ao longo do espetáculo e ao final toma conta de todo o palco e se converte em um macrossigno que pode ser lido a partir de distintas perspectivas: o desencontro dessa família retratada em cena, as dificuldades de relações na nossa contemporaneidade, esse “hipopótamo” que temos que “engolir” em nosso cotidiano – que cara/rosto ele representa/tem?…
A trilha sonora nos dois espetáculos é fundamental para propiciar a reflexão diante os olhos da plateia. Se, em Por Elise, a música de Beethoven aciona um memória coletiva do público; em Amores Surdos, nos minutos finais, depois de todos se enfrentarem e, pela primeira vez, se olharem verdadeiramente, a Mãe traz para a cena um balde, panos de chão e vassouras e os entrega para Graziela e Joaquim, que começam a limpar o chão, enquanto Samuel continua implorando, do lado externo do apartamento, para entrar (o lar aqui, ainda que desestruturado, como já foi explicitado, é o único lugar onde ele se sente “seguro”). É introduzida a música “Pérolas aos poucos”[1], de José Miguel Wisnik, e, nesse momento, todos tentam organizar o espaço como se fosse possível reorganizar as suas vidas. Diante do caos instaurado em cena, a personagem Pequeno cresce; talvez, o único sujeito daquela família que tem a sua identidade tocada, aquele que passa por um processo real de transformação, e o grande signo desta transformação são os sapatos.
O menino calça o seus sapatos pela primeira vez. E, calçado com os seus sapatos, faz o seu ritual de sapateado. Durante todo o espetáculo a família, simulando uma aparente harmonia realiza um ritual de café-da-manhã ao som de uma música, onde a Mãe e os filhos Samuel, Joaquim e Graziele dançam sapateado enquanto Pequeno toca o seu piano de calda construído com o seu jogo de peças de montagem de madeira. A Mãe grita pelo pai Vicente, chamando para unir-se à família para o ritual do café da manhã. Tudo isso revela a potência do ato final da personagem ao calçar os sapatos e realizar o seu solo de sapateado .
Por fim, ao final da encenação, o telefone toca e Pequeno se dirige à plateia dizendo: “Vocês, por favor, já podem ligar seus celulares. Alguém pode estar chamando por vocês, e isso é muito importante.” (p. 64) O telefone toca insistentemente… As palavras-“oráculo” de Joaquim se cumpririam?…
REFERÊNCIAS
PASSÔ, Grace. Amores Surdos. Rio de Janeiro: Cobogó, 2012
PASSÔ, Grace. Por Elise. Rio de Janeiro: Cobogó, 2012
PAVIS, Patrice. Teatro Pós-dramático. In: BAUMGÄRTEL, Stephan e CARREIRA, André. Nas fronteiras do Representacional: reflexões a partir do termo “Teatro Pós-Dramático”. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2014. p. 9-23.
[1] Eu jogo pérolas aos poucos ao mar/ Eu quero ver as ondas se quebrar/ Eu jogo pérolas pro céu/ Pra quem pra você pra ninguém/ Que vão cair na lama de onde vêm// Eu jogo ao fogo todo o meu sonhar/ E o cego amor entrego ao deus dará/ Solto nas notas da canção/ Aberta a qualquer coração/ Eu jogo pérolas ao céu e ao chão// Grão de areia/ O sol se desfaz na concha escura/ Lua cheia/ O tempo se apura/ Maré cheia/ A doença traz a dor e a cura/ E semeia/ Grãos de resplendor/ Na loucura// [eu jogo ao fogo todo o meu sonhar/ eu quero ver o fogo se queimar/ e até no breu reconhecer/ a flor que o acaso nos dá/ eu jogo pérolas ao deus dará]
MARCOS ALEXANDRE é doutor em Letras pela FALE-UFMG, bolsista do CNPq e professor Associado da FALE-UFMG, na graduação e na pós-graduação.
Quintal da existência, de Eduardo de Jesus
Grupo mineiro traz lições de delicadeza na bagagem, de Kill Abreu
Crônicas delicadas, de Paulo Sérgio Scarpa
Delicada e sincera, “Por Elise” parece feita para cada espectador, de Sérgio Sálvia Coelho
Por Elise e Amores Surdos: poéticas textuais, de Marcos Antônio Alexandre
Eduardo de Jesus:
QUINTAL DA EXISTÊNCIA
“Por Elise” parte da estrutura extremamente fragmentada do texto de Grace Passô, desenvolvido em conjunto com os integrantes do grupo Espanca!, o que acentua a força da memória no espetáculo
publicado no Estado de Minas do dia 04 de fevereiro de 2006.
Algumas vezes são situações mais ordinárias da vida cotidiana que fazem brotar uma imagem poética. Lembranças esparsas embaladas pela ausência de recordações mais palpáveis acabam celebrando o fragmento e o mínimo movimento da memória cheia de uma espécie de poesia do cotidiano. Podemos lembrar de Proust, seja nas madeleines ou nas figuras em que “a lanterna mágica fazia passear pelas cortinas do meu quarto ou subir ao teto – enfim, sempre envolvidos no mistério dos tempos merovíngios e banhados, como em um poente, na luz alaranjada que emana desta sílaba: antes”.
São múltiplas tramas dessas situações mínimas – com imagens que surgem e logo se apagam – que se constrói o espetáculo Por Elise, do grupo mineiro Espanca!. Primeira produção do grupo, a peça alcançou imediato reconhecimento de público e crítica nas diversas apresentações, ao longo de 2005 e início de 2006.
A estrutura extremamente fragmentada do texto de Grace Passô, desenvolvido juntamente com os outros integrantes do grupo, acentua esse caráter de memória no espetáculo. Tudo parece como se fosse uma imagem exibida por pouco tempo, deixando apenas uma marca suave, um registro tênue. É justo nessa superfície de uma memória aberta e coletiva que essas imagens sejam geradas e sutilmente inscritas, como no bloco mágico de Freud. Mas em Por Elise a intensidade na mistura das imagens cria uma topologia dinâmica da acumulação dos fragmentos, sejam vidas, sentimentos ou memórias.
O que mais chama a atenção é esse modo de construir a narrativa. São pequenos fragmentos lançados ao público que os vai juntando daqui e dali, em busca de sentido. É como se estivéssemos mesmo naquele quintal, com aquele enorme (?) abacateiro, fugindo para os abacates não nos atingirem e ao mesmo tempo tentando proteger os personagens dessa intempestiva situação limítrofe entre viver e arriscar-se a viver. Assim podemos ver em Por Elise uma tensão entre as possibilidades do risco e do envolvimento. Como envolver-se e viver? Como arriscar-se e viver? Como viver sem envolvimento?
Logo no começo do espetáculo a dona de casa (Grace Passô) nos chama a atenção: “Não se envolva!”. Frase estranha quando pensamos que, de alguma forma, hoje em dia isso já é uma ordem. Essa vida de sentimentos anestesiados, de contenção e de nenhum envolvimento com qualquer coisa que seja. No atual universo big brother de intimidades vigiadas a distância e de contatos assépticos mediados pela televisão, a frase parece mais um grito de resistência, uma advertência de quem vive entre o risco da morte e a vida. A primeira resposta possível à advertência da dona de casa é: “Ora, nós não nos envolvemos mesmo!”.
No entanto, com o desenvolvimento da peça, algumas vezes somos o cachorro (Marcelo Castro) “latindo” palavras ou a mulher (Samira Ávila) impossibilitada de se manter erguida. Os lampejos da narrativa exigem, pela fragmentação, envolvimento com a peça. Assim, sutilmente, em busca de sentido para os fragmentos da história, somos envolvidos por essas vidas destroçadas pela urgência do cotidiano e pela ausência de sonho. Ao longo do espetáculo vamos, pouco a pouco, com esses personagens lampejantes, buscar sentido para suas vidas que, como as nossas, algumas vezes deslizam em uma total falta de razão. O movimento de envolver-se com a narrativa, com os personagens e com nossas próprias vidas parece ser o ponto central da peça e isso reflete no modo como o texto é articulado e encenado pelo grupo. A montagem parece ressaltar essa idéia de uma imagem fugaz, quase sem registro, seja pela rapidez de sua aparição ou pela sutileza com que a luz mais esconde do que revela, desenhando assim uma aproximação com a memória, com a lembrança que se acende e apaga ao ser sensibilizada por algum estímulo.
Em todo esse movimento, quando vemos, já estamos envolvidos. Passamos a nos ocupar com aquelas situações. Estilhaços nos chegam e parecem revigorar a memória de uma certa casa com um abacateiro, de uma pessoa com medo da solidão, de alguém farto do imediatismo buscando no distante, no estrangeiro e no desconhecido, a razão de ser dos seus sonhos e de sua própria vida. Todas essas imagens são de uma memória, parecida com as tramas de Penélope, feita e desfeita, nesse caso pelo incontrolável ritmo da vida. Não essa vida freqüentemente exibida pelos meios de comunicação (entre as informações e o entretenimento), sem mostrar qualquer coisa que fuja ao controle. Tudo bem organizado e adequado. As vidas de Por Elise são o oposto disso. Não há certeza, não há lugar definido. O que existe é uma urgência, uma aflição, uma vida que brota estranhamente, ao se destroçar o cotidiano.
Mas memória de quê? Talvez esse aspecto da memória tenha me chamado a atenção no espetáculo, por acreditar que nas situações não controladas e imprevisíveis da vida cotidiana seja possível, pelo menos pra mim, encontrar um termo perdido e fabulador, mistura de lembranças vividas ou não. Na verdade, se há o registro delas, como no bloco mágico, foi tão tênue que não deixa a certeza de sua inscrição.
Mas que lembrança essa memória nos oferece? Talvez a memória de uma vida pequena, impossível de chamar a atenção, exceto quando, por um movimento qualquer se envolve. A vida parece ganhar um viço, uma possibilidade de proteção e segurança. Afinal, quem poderia segurar a mulher (distinta e desesperadamente vestida de vermelho)? Quem poderia ajudá-la a manter-se de pé senão o lixeiro, que em suas afobadas idas e vindas acaba se envolvendo. Um lampejo que agora se faz vida e nos contamina.
Ao terminar o espetáculo, estamos todos com os fragmentos reunidos e completamente envolvidos pela delicadeza dos personagens e da história. Agora, na tentativa de ver como esses fragmentos recolhidos do universo de Elise podem servir para nos envolver com o que está à nossa volta. Assim, mais uma vez, estaremos vivos e abertos ao imprevisível da própria vida que, como o abacateiro, dá frutos. Às vezes não conseguimos nem pegar e nem fugir deles, mas somos, na verdade, atingidos distraidamente por eles.
Kill Abreu:
“POR ELISE”: GRUPO MINEIRO TRAZ LIÇÕES DE DELICADEZA NA BAGAGEM
publicado no Diário do Fringe de 24 de março de 2005.
“Pour Elise”, a composição de Bethoven, traz uma freqüência que segundo os músicos reverbera sem machucar. Em “Por Elise”, o espetáculo, há algo que, como se diz na peça, “espanca doce”.
A música, vulgarizada nas visitas dos caminhões do gás, é o tema perfeito para a inspiração da dramaturga, atriz e diretora, Grace Passô. A imaginação lírica que o espetáculo faz revelar contorna a ambição dos grandes temas e nos leva às portas de estórias tão ordinárias quanto as de qualquer homem comum. No entanto, pelas mãos da autora elas são abertas com a chave de uma síntese poética extra-ordinária, que nos faz viver, no decorrer da encenação, breves sustos e pequenas epifanias.
O que primeiro chama a atenção é a disciplina rara para fazer equilibrar o lirismo da linguagem e a objetividade da narrativa. A poesia das falas dispensa malabarismos verbais e tem a medida certa para provocar o andamento da fábula. Nessa dinâmica o texto anuncia imagens que na cena ganham traduções surpreendentemente simples e potentes. Algo como um lixeiro que durante o trabalho fantasia estar correndo a caminho do mar.
São quadros que desenham a felicidade pouca e fugaz no encontro entre personagens protegidos por alarmes, cercas, preces e falsos – mas eficazes – amuletos. Em uma inversão radical e recorrente no teatro contemporâneo, trata-se de uma espécie de narrativa épica às avessas: um épico íntimo, em que a tarefa parece se traçar, através do relato em tom confessional, as coordenadas da subjetividade no ambiente das relações cotidianas.
Jovem que seja, o Espanca! resolve com serenidade seu projeto artístico. A montagem, até aqui certamente uma das mais bem sucedidas do Festival, revela excelente desempenho de Grace Passô em todas as funções criativas a que se propõe, da fina fatura dramatúrgica ao envolvente resultado cênico. Traz também um elenco talentoso e valente, que mostra compromisso pleno com o representado.
Ressalva feita a uma ou outra passagem em que a cena ainda não encontrou a medida correta de exposição, “Por Elise” dispensa a expectativa do grande espetáculo. Deve ser visto da forma como se lê um breve poema e delicado poema. Para ficar entre os mineiros, é como diria Adélia Prado: a vida é uma complexa engrenagem… mas basta um toque e…
Paulo Sérgio Scarpa:
CRÔNICAS DELICADAS
publicado no Jornal do Comércio de Recife, no dia 20 de novembro de 2005.
Os mineiros do grupo Espanca! mostram que gostam de contar histórias, assim como seus mais ilustres cronistas da vida cotidiana. Simples crônicas diárias que povoam a imaginação de moradores de um bairro fazem da peça Por Elise, criação coletiva arrematada pela atriz e diretora Grace Passô, uma série de encontros e desencontros de gente comum, que não sofre de complexos problemas existenciais, mas que enfrenta a solidão, a falta de comunicação e a dificuldade de dizer direitinho o que se quer e precisa ser compartilhado.
É a primeira peça do Espanca! que foi mostrada este ano no Festival de Teatro de Curitiba, onde teve excelente recepção, e foi assim por onde passou até agora. Nada mais natural para um grupo de jovens dispostos a atuar e mostrar que gostam do que fazem. Para isso, não precisam nem de cenários – os figurinos são simples, eficientes e adequados, e a iluminação cumpre o papel de comentar e acentuar situações dramáticas. E desmistifica a falsa pretensão de que um grupo deve encenar o texto mais difícil para provar que é bom ou cobrir de luxo uma montagem.
O grupo Espanca! nos lembra o que diz a crítica teatral Bárbara Heliodora sobre a pretensão de grupos teatrais iniciarem seu caminho encenando clássicos gregos ou obras-primas da dramaturgia mundial que exigem, antes de qualquer coisa, muita compreensão por parte do encenador e dos atores. Nada pior que uma encenação que peca pela falta de humildade ao optar pela arrogância para provar que é boa e o grupo chegou para ficar.
Por Elise é uma pequena, imaginativa e bem-sucedida fábula contemporânea sobre pessoas que poderiam até ser qualificadas como ordinárias, no sentido menos pejorativo do termo. Homens e mulheres cercados de situações bem-humoradas, algumas irônicas e outras de extrema emoção, sem cair nunca no sentimentalismo barato, como aquela em que a mulher se despede de seu cachorro que será imolado. A cena é muda, apenas olhares, gestos inacabados, iniciativas interrompidas ao se tentar dizer adeus. Para que falar quando olhos, bocas e corpos conseguem dizer mais que as palavras?
A montagem privilegia as atuações. Os atores se mostram soltos ao revelar as contradições dos sentimentos humanos. São frases que podem parecer até banais, colocações divertidas e inesperadas, como a história de uma mulher que leva sucessivos sustos com a queda de abacates maduros, por sinal os únicos adereços num palco completamente vazio. Ou como uma mulher solitária se deixa envolver por um lixeiro enquanto faz de tudo para evitar que seu cachorro seja levado pela carrocinha. Um cachorro, por sinal, que fala ao latir.
A peça inicia com a expectativa de que muitas histórias sejam contadas, como a da mulher que viu nascer uma alface no peito e se abriu para a vida; ou a daquele homem que, enquanto sofria um enfarto, ria da vida.
Delicadezas e maturidade que deixam a platéia a princípio sem saber o que fazer e como reagir, mas que, após entrar no jogo teatral, se deixa seduzir por olhares, frases inacabadas, gestos parados no ar. E os atores não se intimidam diante de situações cômicas, nem se deixam cair na tentação do dramalhão diante de fragilidades que poderiam se tornar até ridículas. Não imaginem que o grupo se comporte como amador apenas por ser a primeira peça montada.
Por Elise fala de quintais, de caminhões de gás que cantam nas ruas o Pour Elise, de Ludwig van Beethoven, e de cachorros. O grupo nos força a ver um dia-a-dia que a pressa, o corre-corre do trabalho e a solidão não nos deixa perceber, assim como os movimentos suaves de um tai-chi-chuan executado com o mesmo refinamento e graça dos gestos orientais.
O olhar desses jovens mineiros sobre o ser humano é sempre delicado e generoso, sem deixar de ser agudo e crítico. E a peça é um elogio à palavra. Até quando, no final, o grupo revela que o maior pecado de todo mineiro é querer fugir para o mar.
Sérgio Sálvia Coelho:
DELICADA E SINCERA, “POR ELISE” PARECE FEITA PARA CADA ESPECTADOR
Publicado na Folha de São Paulo do dia 09 de outubro de 2005.
Grace Passô tem abacateiros em seu quintal. Vive com medo de um deles cair na sua cabeça. “Cuidado com que você planta”, avisa ela logo no começo do espetáculo “Por Elise”, como quem segura o riso (ou o choro).
O conselho, pleno de ingenuidade e sabedoria na melhor tradição popular, parece derivar do “cuidado com o que você deseja, porque pode dar certo”: ao mesmo tempo, encoraja ao desejo e adverte sobre suas possíveis conseqüências.
Como uma fábula de formação, seguindo o caminho do haicai em seus saltos narrativos e seus silêncios profundos, “Por Elise” tira poesia até mesmo da música dos caminhões de gás (sim, é a ela que o texto alude).
Frases banais vão ganhando profundidade a cada repetição, e o público descobre, encantado, que está recebendo profundas lições de vida de um elenco tão jovem. Cada metáfora, contundente e inesperada, cai com precisão, enchendo ouvinte de dor e doçura: “Espanca doce”, como a queda do abacate, dando nome ao grupo que saiu de Belo Horizonte com seu primeiro trabalho e vem se consagrando pelo Brasil todo.
Personagem de si mesma, Grace mostra em seu texto encontros entre personagens implausíveis, como a gente encontra na vida cotidiana. Uma moça, desorientada por ter que sacrificar seu cachorro (Samira Ávila, delicada e intensa), se apaixona pelo lixeiro, que parece saber onde vai (Gustavo Bones, de uma simpatia irresistível). O moço que vem para sacrificar o animal se mostra mais profundo que sua profissão deixaria pensar: sonha em ir para o Japão (Paulo Azevedo nunca cai no caricatural com um personagem tão difícil) e acaba deixando se contagiar pela fragilidade do mundo. Marcelo Castro, que faz um personagem que se revela aos poucos, está inesquecível.
A múltipla Passô, na direção sabe coordenar e compartilhar a criação do espetáculo: refere-se aos atores como “intérpretes criadores”, faz o tai-chi da direção de movimentos reverberar tanto na trilha de Daniel Diazepam quanto no preparo vocal de Le Thi Bich Huong, enquanto o figurino de Marco Paulo Rolla revela com poucos recursos o essencial de cada personagem. Com essa dinâmica, o grupo Espanca! remete à Cia. Livre de Cibele Forjaz.
Encerrando temporada hoje, “Por Elise”, com sua delicadeza e maturidade, é um desses espetáculos que parece ter sido feito especialmente para cada platéia. Deixa saudades, como uma conversa sincera entre amigos. Voltem sempre.
POR ELISE E AMORES SURDOS: POÉTICAS TEXTUAIS, de Marcos Antônio Alexandre
publicado no Dossiê Espanca do site Horizonte da Cena em setembro de 2015
Dona de Casa: Historinha eu tenho mil. Poderia contar várias aqui para vocês. Tem a da senhora que brotou uma alface no meio do corpo dela. E ela se abriu para a vida. Essa é ótima. Uma das melhores que já ouvi por aqui. Tem a daquela mulher que estava triste andando na rua e caiu no bueiro: só que lá dentro encontrou um homem na mesma situação. E então eles ficaram alegres. Olha que loucura. […] E há outras histórias sobre moradores daqui… como dizia o Valico: “histórias vitalícias” Oh! Valico.
Ela se lembra do Valico.
Dona de Casa: Ele teve um enfarte no coração e durante o enfarte começou a dizer, me dizer uma porção de palavras bonitas e espontâneas. A vida dele se enfartou e ele teve um ataque de lirismo. Eu juro. Muitas das coisas que eu falo aqui são dele, que gravei daquele momento.
[…]
Cai, vindo do alto, um abacate próximo a Dona de Casa. Ela sente medo.
Eu sou aquela que há alguns anos plantou um simples pé de abacate no quintal de sua casa. Ele cresceu. E então eu vivo assim. Assim! (ela sente medo) Cuidado com o que planta no mundo! Mas por aqui, como eu, existem outros moradores desprotegidos, mesmo com cães dentro de casa. Companheiros de muros: muros de tijolos, muros de pele. Sabe “proteção” é mesmo bem importante. Eu, por exemplo, sempre quis colocar colchões largos em volta do pé de abacate de minha casa. […] (PASSÔ, Por Elise, 2012, p. 14-15)
Joaquim: Boa noite. Obrigado por terem vindo. Desculpem começar assim, cortando o sonho de vocês, mas para que tanto suspense? Todas as histórias do mundo já foram contadas. Essa é só mais uma história de uma família comum, que toma café, em que um briga com o outro, em que um adoece, enfim: com nossos problemas cotidianos. No começo, este telefone vai tocar, porque meu irmão, que mora longe, está com muitas saudades de nós. Depois nós vamos ficar aqui, convivendo com nossos hábitos particulares; até que no final o telefone vai tocar novamente, nós vamos atender e receber a notícia de que meu irmão se suicidou. A nossa história é essa.
Vocês são grandes, eu sou grande, ninguém aqui é Pequeno… todo mundo aqui sabe onde está. Todos sabem que amanhã eu vou repetir as mesmas coisas que eu estou falando agora. Todos sabem que amanhã eu vou entrar nesse lugar e dizer:
Boa noite. Obrigado por terem vindo, mas todas as histórias já foram contadas… […]
É isso: todas as histórias do mundo já foram contadas… Vocês sabem: em alguma hora, um celular vai tocar aí (apontando o espaço da plateia), algumas pessoas vão pensar: “Nossa, que falta de educação deixar o telefone ligado aqui!” Aí o dono ou vai desligar seu telefone para ser fiel à educação que sua família lhe deu, ou vai, sem culpa, atender, falando baixo: “Oi, tô em outra realidade! Depois te ligo!” […] (PASSÔ, Amores Surdos, 2012, p. 18-19)
“Há que ser imparcial ao voltar o olhar para uma produção artística”, reza o manual de crítica tradicional. Não obstante, na minha concepção analítica, esta característica sempre é – ou deveria ser, em nível geral, – colocada em xeque, pois, em primeiro lugar, só me proponho a discorrer sobre algum trabalho artístico pelo qual sinto algum tipo de identificação e há que se destacar que as identificações nem sempre estão no âmbito do positivo. Em segundo lugar, considero que todas as propostas espetaculares apresentam aspectos positivos e negativos que merecem ser destacados. Não vejo sentido evidenciar os aspectos negativos quando não for para favorecer ao crescimento do trabalho do grupo que está recebendo a minha leitura.
Neste sentido, falar sobre o trabalho do Espanca é um privilégio, pois a minha relação com o grupo está dentro do universo dos afetos que tanto prezo. Apesar de meu objetivo aqui ser manifestar o meu olhar crítico, não me privo de destacar as minhas subjetividades pelo fato de considerar o grupo um dos coletivos favoritos dentro do contexto mineiro. Diante de seu já vasto repertório, elejo para esta breve reflexão os seus dois primeiros trabalhos, “Por Elise” e “Amores Surdos”, pois se tratam de encenações singulares que me permitem refletir sobre distintas possibilidades de leituras: os espaços intervalares da memória, os lugares de representação das identidades dos sujeitos e de suas subjetividades na contemporaneidade, o teatro pós-dramático, ecos de um realismo mágico.
A peça “Por Elise” foi escrita, em 2005, por Grace Passô, durante o processo de criação do espetáculo, em parceria com os atores Gustavo Bones, Marcelo Castro, Paulo Azevedo e Samira Ávila, sendo que esses últimos autores foram substituídos posteriormente por Sérgio Penna e Renata Cabral. Por sua vez, Amores Surdosestreia em 2006. No elenco, além da autora, Grace Passô, Gustavo Bones, Marcelo Castro, Paulo Azevedo e Samira Ávila, que foram substituídos, respectivamente, por Assis Benevenuto (que assume a personagem Joaquim, interpretada na primeira montagem por Gustavo Bones, que, por sua vez, passa a interpretar a personagem Pequeno) e Mariana Maioline, em 2009.
Em nossa contemporaneidade, muito se discute sobre teatro pós-dramático e os argumentos e proposições de Hans-Thies Lehmann. Patrice Pavis, no artigo “Teatro Pós-dramático” (2014), traça um panorama sobre o conceito, apresentando as origens, alguns problemas, desafios e encorajamentos. O crítico elenca quatro desafios, entre os quais, para esta reflexão, destaco “a heterogeneidade”:
o dramático (o textual) e o cênico (o performativo) estão claramente imbricados; daí resulta um objeto artístico e uma noção teórica (o PD) bastante heterogênea, entretanto adaptada às obras e ao mundo com o qual nos relacionamos. Nenhuma teoria dos gêneros dramáticos, e ainda menos uma teoria das práticas cênicas, seriam capazes de incluir todos esses espetáculos.
Os diferentes espetáculos (performances) do PD não se definem por uma essência ou por características comuns, mas sim por práticas cênicas e sociais radicalmente diferentes umas das outras. Não somente a representação é a soma heterogênea das artes, dos materiais, ou dos discursos, mas eles próprios são heterogêneos e não específicos […] (PAVIS, 2014, p. 16)
Julgo pertinentes as considerações de Pavis pelo fato de o crítico se mostrar consciente da imbricação, da heterogeneidade e das diferenças que se fazem presentes entre as propostas espetaculares contemporâneas. No caso dos espetáculos aqui discutidos, apesar de distintos, considero que ambas as encenações foram produzidas com referências nos argumentos expostos por Pavis, trazem elementos que dialogam entre si e, por sua vez, são estas singularidades que me interessam.
Se, em “Por Elise”, temos a figura emblemática da personagem Dona de Casa que inicia o espetáculo anunciando que “tem mil histórias para contar” e, como uma “narradora brechtiana”, abre um leque de poéticas textuais que passam a ser divididas com os espectadores; em Amores Surdos, temos a presença de Samuel, que abre o espetáculo lendo uma carta cifrada e rebuscada: “Sabeis o quanto o dia a dia encerra os nossos sentidos, desenha nossas almas no hábito e, portanto, o quanto a vida cá nessas quatro paredes não é doce, branda ou suave. […]” (p. 17), que tudo indica haver sido enviada pelos vizinhos moradores do apartamento superior com os quais a família não estabelece uma relação “amistosa”; para, em seguida, entrar em cena a personagem Joaquim, que como um contador de histórias “contemporâneo” – por que não pós-dramático? – também quebra – brechtianamente – o pacto ficcional, revelando ao espectador um dos desfechos da trama – a morte do irmão em um país estrangeiro longe da família. Assim como em “Por Elise”, sentimentos de solidão, medo, incapacidade e incomunicabilidade são evidenciados também em “Amores Surdos“.
Os sentimentos, subjetividades e as identidades fragmentadas de cada personagem são desvelados nas ações físicas e na atuação de cada ator. Em Por Elise, uma Dona de Casa, a suposta Elise, uma mulher contadora de histórias (uma griot), aquela que sabe a história de todos, mas não é capaz de lidar com a sua, que cria galinhas, mas tem dó de matá-las; um Funcionário, que se veste com uma roupa que tem uma proteção de espuma, pois trabalha lidando com cães, não se envolve com as coisas que o rodeia, junta dinheiro para ir para o Japão e tem a função de sacrificar o Cão (Homem-Cão) da personagem Mulher, uma jovem, vestida de vermelho, frágil, sensível, que tem no seu cão a única possibilidade de afeto e tem o seu caminho cruzado pelo Lixeiro, que corre o tempo todo atrás de um caminhão de lixo, imaginando que o mar é o seu horizonte, a possibilidade de fuga, de viagem, de encontros. Talvez, esta personagem represente a utopia. A presença da personagem Homem/Cão na trama é fundamental para o desenvolvimento e desenlace da obra. Se, em princípio, ela possa ser vista e interpretada apenas por um ator vestido com um moletom marrom, sua movimentação, ao longo do desenvolvimento do espetáculo, vai alternando com ações tipicamente humanas – andar sobre as duas pernas e beijar a boca das outras personagens, que traz uma forma de manifestação do afeto humano e, ao mesmo temo, remete às lambidas, que são uma demonstração de afeto dos cães. Os trejeitos trazidos para as cenas também nos remetem aos de um cachorro: os latidos (palavras/brados/poéticas textuais) próprios de um cão, brincadeiras (partituras) corporais como saltar ou bater as mãos (patas) em sua dona. Com a interpretação do Homem/Cão, Marcelo Castro assume as características de um ator-performer, aquele que Pavis se refere como ator pós-dramático:
O ator PD é um ator performador: o performador não tenta construir nem imitar um personagem, ele se situa num cruzamento de forças, dentro de um coralidade, inserido num dispositivo que agrupa o conjunto de suas ações e de suas atuações físicas. Ele se apresenta como uma simples presença da pessoa tendo subtraído o personagem, ou como numa competição de resistência vocal e física (Pollesch, Castorf). Ele não é mais obrigado a entrar nas emoções do espectador por meio da imitação ou da sugestão de suas próprias emoções (Einfühlung), mas segundo a feliz formulação de Roselt, ele deve sair da identificação (Ausfühlung), abandonando o pântano da simulação das emoções, para alcançar as suas próprias emoções, tal qual um desportista, um intérprete musical, um membro de coro, um técnico ao serviço não da imitação humana e de uma ilusão teatral, mas de um coletivo de enunciação.
Na minha leitura, o ator-performer e sua personagem atuam no limiar entre o representacional e o ficcional, jogando com uma tessitura corpórea, deixando que os espectadores se sintam envolvidos pelas poéticas textuais sugeridas por cada cena, que todos se vejam embebidos pela “ilusão teatral”.
Estas poéticas textuais se manifestam em outras partes da encenação como no momento em que o público presente – ou pelo menos parte dele – reconhece, por meio de uma reminiscência de memória, uma música que lhe é familiar: a mesma de um caminhão de gás que passava na porta da casa onde residia em um bairro da periferia de Belo Horizonte ou de uma cidade do interior das Minas Gerais, ou seja, trata-se da música “Pour Elise”, de Beethoven. Estas subjetividades se corporificam nos diálogos entre a Mulher e a Dona de Casa e, dentre tantas pérolas poéticas ditas, eclode a fala da Mulher, um jorro de melancolia: “O caminhão de gás. Que música bonita para se comprar gás chorando, não é?” (p. 53). A sequência é um dos momentos mais belos da encenação:
Mulher experimenta para si a Cerimônia das Palmas, enquanto se ouve a música ‘Pour Elise’, de um caminhão de gás que passa por ali.
Mulher procura sua força. Faz a sua Cerimônia das Palmas.
Mulher: Eu sou forte, como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. Eu sou forte, como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar! Deus, eu não vou lhe incomodar. Eu juro. Pode ficar aí. É só pra ficar olhando. Eu vou me levantar daqui sozinha e vou voltar a correr porque é da Ordem. E, se for necessário, eu vou começar tudo de novo. Vou acordar de manhã, fazer o café e ligar a secretária eletrônica, o alarme, e vou colocar cacos nos muros, e olhar meu jardim e correr novamente. Porque eu sou forte, porque eu sou forte.
Ela chora. Ela chora.
Mulher: E vou criar outros instantes e ninguém vai perceber que estou criando, porque todos vão se envolver! TODOS! E que venham os fins, que venham todos os fins, porque eu sei recomeçar, eu sei! Quem respira por mim? Quem respira por mim? Porque eu sou forte, como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. CORRENDO EM DIREÇÃO AO MAR. CORRENDO EM DIREÇÃO AO MAR. CORRENDO EM DIREÇÃO AO MAR! (p. 54-55, maiúsculas do original).
As palavras ressoam em tom de lirismo e de prédica e desvelam um fluxo de pensamento em que a subjetividade da personagem é apresentada, em princípio, de forma desconexa, mas, em seguida vai ganhando contornos de esperança, de desejo de mudanças e, novamente, o mar é a metáfora que representa esta possibilidade de transformação.
Ao final, depois de o espectador entrar em contato com as identidades fragmentadas de todas as personagens, depois de conhecer as fragilidades dos sujeitos em seus encontros casuais e por meio de suas histórias entrecortadas, fica latente o latido-bramido do Homem-Cão, que encerra, alegoricamente e em tom didático, o espetáculo: “CUIDADO. CUIDADO COM O QUE TOCA. COM A CAPACIDADE QUE GENTE TEM DE SE ENVOLVER COM AS COISAS. COM O AMOR, QUE ESPANCA DOCE. CUIDADO. FAÇA ISSO POR MIM. POR MIM! POR MIM! POR MIM!” (p. 57, maiúsculas do original).
Os sentimentos também podem ser considerados um dos motes da dramaturgia e da encenação em Amores Surdos. O pacto estabelecido com a personagem Joaquim logo ao início da encenação, além de revelar ao espectador que o irmão, que vive em outro país, irá morrer durante a encenação, como já foi descrito, também deixa transparecer que ele é sonâmbulo e é o seu sonambulismo que passa a desvelar as subjetividades de toda a família, composta por ele, o filho mais velho, que tem uma relação mal resolvida com a Mãe; o Pai, Vicente, que é citado o tempo todo durante a encenação, mas não aparece; a Mãe, superprotetora e controladora de toda a família, carinhosa em alguns momentos e, em outros, ríspida com os filhos; Samuel, frágil e inseguro, vai começar o seu primeiro dia de trabalho, mas não se sente seguro para encarar o mundo exterior à sua casa; Graziele, uma adolescente, que usa o tempo todo um headphone que ganhou de presente do irmão que vive fora, ela “está na fase em que imagina a vida como um clipe de música (p. 23); Pequeno, tem crises de asma, recusa-se a calçar os sapatos, é apaixonado pela menina do apartamento de cima, tenta durante toda a encenação contar à família um segredo: “Mãe… Sabe naquele “quando” que eu botei gesso no braço? […] É que… Nada não… (p. 33)”; Junior, o irmão que vive em outro país, liga para casa constantemente demonstrando que se encontra extremamente solitário: “Alô, Junior? Como vai? […] mas por que está com essa voz/ Júnior! Você está chorando? Calma, o que você tem? que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu? Junior!” (p. 50), um vetor que justifica e nos permite entender depois a suposta morte anunciada pela personagem Joaquim.
A relação com Os Rinocerontes (1959), de Ionesco e um possível diálogo com a estética do absurdo tornam-se evidente na dramaturgia e na encenação de Amores Surdos. No entanto, prefiro destacar, nesta leitura, ecos do Realismo Mágico – assim como os vislumbro, em Por Elise, nos abacates que pendem e caem do teto e, poeticamente, provocam, espancam palavras doces como aquelas deixadas para o filho pela personagem Valico quando, enfartando, poetiza: “OH VIDA, FARPA DE MADEIRA INTENSA! A NATUREZA NÃO É DOCE, OS FRUOS É QUE SÃO” (p. 25, maiúsculas do original) – quando Pequeno revela à família que trouxe um hipopótamo do zoológico, que, no começo ele o colocava sua piscininha, mas o bicho cresceu e ele acabou o deixando no quarto do irmão Júnior. A sua ideia era aprender a respirar com o animal, pois os hipopótamos têm um pulmão enorme, assim ele se curaria de sua asma. Pequeno revela que William, nome que deu ao seu bicho de estimação, já vivia com a família há cinco anos e que havia comido o Pai logo quando chegou ao apartamento. Apesar de uma história “surreal” (no sentido trivial da palavra) e fantasiosa que parte de uma perspectiva de uma criança, como em uma narrativa de Gabriel García Márquez, os conflitos da família e a figura alegórica do animal se fazem críveis aos olhos do espectador. O universo do realismo mágico (maravilhoso) se configura: desprender-se da realidade por meio de uma história, em princípio “fantástica”, descrita de forma “realista” dentro de uma narrativa, neste caso, dentro das ações dramatúrgicas.
Quando é relevado que o hipopótamo engoliu o Pai, a família, que em si já era desestruturada, fica em pânico, Joaquim quer matar o animal: “SE NÃO MATARMOS, ELE VAI ENGOLIR MAIS UM DE NÓS!” (p. 62, maiúsculas do original); Graziele teme pelo irmão; Samuel, mais uma vez, volta para casa, pois não consegue sair para enfrentar o primeiro dia do trabalho e insiste tocando a campainha, chorando desesperadamente, implorando para que lhe abram a porta; a Mãe, num primeiro momento, bate no Pequeno, grita. Tudo isso acontece em um ritmo que vai crescendo ao som de uma música erudita (uma alusão à família dos vizinhos que ouvem música orquestrada muito alta, são cultos, mas não se entendem), em que eclode o sentimento de incomunicabilidade entre todos os membros da família. Até que a Mãe, finalmente, toma para si a responsabilidade:
Mãe: (digna, surpreendentemente forte) NINGUÉM VAI MATÁ-LO. ESSA É A NOSSA REALIDADE. TEM COISAS QUE NÃO SE MATA. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. ESSA É NOSSA REALIDADE, NÃO SE ARRANCA A COLUNA POR CAUSA DA DOR NAS COSTAS, O GRANDE BICHO VAI CONTINUAR AQUI, NESSA CASA, DENTRO DE NÓS. DENTRO DE NÓS. NINGUÉM VAI MATÁ-LO. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. TEM COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS. (p. 62-63, maiúsculas do original)
Assim como em Por Elise, na fala da Mãe, a repetição aqui ecoa nos sentidos do espectador e essas “COISAS QUE FORAM FEITAS PARA SE VIVER COM ELAS” assumem conotações múltiplas em nossa contemporaneidade, assim como a lama que vai “sujando” o figurino dos atores/personagens aos poucos ao longo do espetáculo e ao final toma conta de todo o palco e se converte em um macrossigno que pode ser lido a partir de distintas perspectivas: o desencontro dessa família retratada em cena, as dificuldades de relações na nossa contemporaneidade, esse “hipopótamo” que temos que “engolir” em nosso cotidiano – que cara/rosto ele representa/tem?…
A trilha sonora nos dois espetáculos é fundamental para propiciar a reflexão diante os olhos da plateia. Se, em Por Elise, a música de Beethoven aciona um memória coletiva do público; em Amores Surdos, nos minutos finais, depois de todos se enfrentarem e, pela primeira vez, se olharem verdadeiramente, a Mãe traz para a cena um balde, panos de chão e vassouras e os entrega para Graziela e Joaquim, que começam a limpar o chão, enquanto Samuel continua implorando, do lado externo do apartamento, para entrar (o lar aqui, ainda que desestruturado, como já foi explicitado, é o único lugar onde ele se sente “seguro”). É introduzida a música “Pérolas aos poucos”[1], de José Miguel Wisnik, e, nesse momento, todos tentam organizar o espaço como se fosse possível reorganizar as suas vidas. Diante do caos instaurado em cena, a personagem Pequeno cresce; talvez, o único sujeito daquela família que tem a sua identidade tocada, aquele que passa por um processo real de transformação, e o grande signo desta transformação são os sapatos.
O menino calça o seus sapatos pela primeira vez. E, calçado com os seus sapatos, faz o seu ritual de sapateado. Durante todo o espetáculo a família, simulando uma aparente harmonia realiza um ritual de café-da-manhã ao som de uma música, onde a Mãe e os filhos Samuel, Joaquim e Graziele dançam sapateado enquanto Pequeno toca o seu piano de calda construído com o seu jogo de peças de montagem de madeira. A Mãe grita pelo pai Vicente, chamando para unir-se à família para o ritual do café da manhã. Tudo isso revela a potência do ato final da personagem ao calçar os sapatos e realizar o seu solo de sapateado .
Por fim, ao final da encenação, o telefone toca e Pequeno se dirige à plateia dizendo: “Vocês, por favor, já podem ligar seus celulares. Alguém pode estar chamando por vocês, e isso é muito importante.” (p. 64) O telefone toca insistentemente… As palavras-“oráculo” de Joaquim se cumpririam?…
REFERÊNCIAS
PASSÔ, Grace. Amores Surdos. Rio de Janeiro: Cobogó, 2012
PASSÔ, Grace. Por Elise. Rio de Janeiro: Cobogó, 2012
PAVIS, Patrice. Teatro Pós-dramático. In: BAUMGÄRTEL, Stephan e CARREIRA, André. Nas fronteiras do Representacional: reflexões a partir do termo “Teatro Pós-Dramático”. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2014. p. 9-23.
[1] Eu jogo pérolas aos poucos ao mar/ Eu quero ver as ondas se quebrar/ Eu jogo pérolas pro céu/ Pra quem pra você pra ninguém/ Que vão cair na lama de onde vêm// Eu jogo ao fogo todo o meu sonhar/ E o cego amor entrego ao deus dará/ Solto nas notas da canção/ Aberta a qualquer coração/ Eu jogo pérolas ao céu e ao chão// Grão de areia/ O sol se desfaz na concha escura/ Lua cheia/ O tempo se apura/ Maré cheia/ A doença traz a dor e a cura/ E semeia/ Grãos de resplendor/ Na loucura// [eu jogo ao fogo todo o meu sonhar/ eu quero ver o fogo se queimar/ e até no breu reconhecer/ a flor que o acaso nos dá/ eu jogo pérolas ao deus dará]
MARCOS ALEXANDRE é doutor em Letras pela FALE-UFMG, bolsista do CNPq e professor Associado da FALE-UFMG, na graduação e na pós-graduação.
A linguagem do outro, de Daniele Ávila
Texturas puras da cena, de Nina Caetano
A reimaginação no poder, de Valmir Santos
Daniele Ávila:
A LINGUAGEM DO OUTRO
Publicado no site questaodecritica.com.br
A peça Congresso Internacional do Medo, do grupo Espanca!, abriu o ACTO2, evento que acontece de 20 de outubro a 3 de novembro deste ano em Belo Horizonte. O encontro reúne três grupos de diferentes estados do Brasil: a Companhia Brasileira de Teatro, do Paraná, o Grupo XIX de Teatro, de São Paulo e o Espanca!, de Minas Gerais, e dá continuidade ao ACTO1 que aconteceu em 2007, com os mesmos grupos, que apresentaram espetáculos de seu repertório – Suíte 1, Hysteria e Por Elise. Neste ano, além de Congresso Internacional do Medo, o evento conta com dois trabalhos da Companhia Brasileira, o espetáculo Vida e o exercício Descartes com lentes, além da apresentação de Hygiene, do Grupo XIX, e das oficinas e encontros com os grupos.
Para escrever sobre Congresso Internacional do Medo e as demais peças que se apresentam no contexto do ACTO2, procuro pensar as relações formais e temáticas possíveis entre os trabalhos dos três grupos, guardadas suas diferenças estéticas, ou seja, procuro pensar como os grupos lidam com as suas questões artísticas e como a convivência das suas diferenças produzem sentido. Nessa peça, o intercâmbio entre os grupos já acontece na ficha técnica espetáculo, que tem direção de Grace Passô, do Espanca!, que assina a dramaturgia em colaboração com o grupo, iluminação de Nadja Naira, da Companhia Brasileira, e direção de arte de Renato Bolelli, do Grupo XIX. Juntos, criaram para a cena uma visualidade árida e fria, que se colore e se aquece aos poucos.
Congresso Internacional do Medo – que estreou em 2008 – deu início à programação do ACTO2 com duas apresentações, nos dias 20 e 21 de outubro, realizadas no Galpão Cine Horto – palco que de certo modo deu origem às atividades do grupo, anos atrás, quando da criação da cena que resultou no espetáculo Por Elise. O Congresso do título reúne representantes de países imaginários, que falam línguas diferentes, para discutir questões em comum a todos. A trama oferece um paralelo possível com o próprio ACTO: cada grupo vem de um lugar diferente do Brasil e cada um fala uma língua – a linguagem dos seus espetáculos são bem diferentes. Mas a comunicação se mostra não apenas possível mas bastante produtiva entre esses palestrantes – assim como acontece entre os grupos. Na peça, no entanto, a dificuldade de comunicação entre os falantes de línguas diversas é num primeiro momento um sinal de incomunicabilidade.
A questão da linguagem – o perguntar-se sobre os pormenores e problemas da linguagem – parece ser uma das questões centrais da peça: a linguagem como desencadeadora do medo, quando indecifrável, e a linguagem como ferramenta de integração e dissolução das hostilidades quando legível, decifrável. A morte e o nascimento estão em cena, mas não é a morte em si, ou a vida em si, que a meu ver se colocam em primeiro plano, mas o como falar da morte, da vida, da história e das diferenças de cada um dos presentes. Em cena, uns falam falando, outros falam dançando. Os falantes – palestrantes do Congresso – são Trumak (Marcelo Castro), Doutor José (Alexandre de Sena, que também assina os arranjos sonoros), Tusgavo Tapbista (Gustavo Bones), Reluma Divarg (Mariana Maioline). Os dançantes são duas figuras que se movimentam nos arredores do tablado sobre o qual está a mesa de debates: Marise Dinis e Sérgio Penna se aproximam e se afastam, dançam juntos e separados, como a vida e a morte, o silêncio e a linguagem.
A tradutora (Gláucia Vandeveld) e a índia Payá (Izabel Stewart), irmã de Trumak, fazem mediações de naturezas diferentes. Uma mais racional, objetiva, outra mais intuitiva, carregada de subjetividade. A tradutora é indispensável, num primeiro momento, para que a comunicação se dê entre os palestrantes e entre estes e o público. Em uma cadeira de rodas e sempre mantendo certa distância da mesa dos palestrantes, ela traduz a fala de cada um – com exceção de Trumak e Payá, que falam a mesma língua que ela e que nós, espectadores: o português. Parece possível identificar um paralelo com a presença dela e a de Payá, que não é oficialmente uma palestrante, embora esteja sobre o tablado com os outros. Ela é a única que vê a dupla que dança no entorno da cena, a única que dança com eles: dentre aqueles personagens, só ela parece saber traduzir imagens, desejos, pensamentos em materialidades outras além da fala. A presença dos dançarinos parece evidenciar essa pluralidade possível, as diferentes formas de produzir sentido numa obra de artes cênicas.
O espetáculo se divide em dois momentos: no primeiro, os palestrantes não se entendem, parece que não se interessam em ouvir o que o outro tem a dizer. A tradutora não parece ter uma preocupação em fazer com que se entendam – ela só traduz para uma língua, a de Trumak e Payá, de forma que os outros três nunca escutam de fato o que o outro diz. Até que a personagem de Mariana Maioline entra em trabalho de parto e dá à luz uma menina, ali mesmo na mesa do congresso. A partir desse momento, a natureza do conteúdo da fala dos personagens muda: eles não falam mais sobre o tema das suas palestras, nem falam mais em formato monológico, apresentando um discurso pronto, mas passam a dialogar, a ter que se comunicar entre si e são tomados por um espírito de generosidade diante do nascimento daquela criança. A tradutora é menos solicitada. Eles conseguem contar para a criança recém-nascida uma história (algo parecido com a da Chapeuzinho Vermelho) sem precisar de tradução. Cada um conta uma parte na sua língua e todos entendem, porque têm a referência em comum.
Com isso, o espetáculo coloca em jogo uma questão que credito ser essencial para a relação do espectador com a obra de arte – e também para a relação do homem com o mundo, de um modo geral : a disponibilidade para decifrar o outro, para perceber que aquilo que o outro tem a dizer pode ser legível, independentemente de um saber sistematizado a priori. O primeiro momento da peça é norteado pela desigualdade: cada um detém um saber, todos querem falar, a tradutora detém uma habilidade que os outros não têm. O segundo momento – sinalizado também por uma mudança na visualidade da cena, a virada do ângulo da mesa e a iluminação que parece se tornar mais quente – instaura um “princípio de igualdade”: todos têm a mesma ferramenta, a linguagem, e todos querem ouvir o outro: a partir disso, todos desenvolvem a habilidade de se comunicar, mesmo que ainda com a ajuda da tradutora em alguns momentos, que é convidada a se juntar à mesa. Esse “princípio de igualdade” que menciono aqui é desenvolvido por Jacques Rancière no seu livro O mestre ignorante – cinco lições sobre a emancipação intelectual, em que ele apresenta a trajetória e o método de ensino de Joseph Jacotot, educador do século XIX que levou a cabo uma proposta pedagógica que contradizia radicalmente a noção corrente de pedagogia da sua época – e da nossa. Jacotot partia do princípio de que, numa situação de aprendizagem, é preciso primeiro reconhecer a igualdade entre o mestre e o aluno: a capacidade de aprender algo novo é a mesma, tanto para o mestre como para o aluno.
Não cabe aqui uma exposição detalhada das ideias de Rancière e Jacotot, mas vale o apontamento de que há naquele livro questões relevantes para se pensar a relação do espectador com o teatro. Esse é o paralelo que eu acredito que se estabelece entre as ideias apresentadas ali e o que acontece em cena em Congresso Internacional do Medo: fica visível a habilidade que o ser humano tem de passar a entender o outro, de passar a ser capaz de decifrar, de algum maneira, o que antes não entendia de modo algum. Não só os personagens vão desenvolvendo a habilidade de se entender, mas o próprio espectador começa a decifrar algumas daquelas falas em línguas estranhas. Essa operação é mérito da dramaturgia, que cria situações que funcionam como pontos de apoio para essa passagem, fazendo com que as frases sejam possíveis de se adivinhar pela identificação dos contextos, pelo reconhecimento da humanidade dos personagens, mais que pelas palavras que contêm.
A tematização da tradução aparece também nas peças da Companhia Brasileira de Teatro que estão no ACTO2, Vida e Descartes com lentes, não só pela atividade de tradução de peças que marca a trajetória do grupo, mas pelo trabalho mesmo de tradução no sentido de apropriação e materialização da referência à obra de Paulo Leminski, parte determinante da pesquisa do grupo para montar Vida – sendo Leminski o autor do texto Descartes com lentes. Em ambas as peças, a tradução parece ser uma estratégia da dramaturgia e da encenação para apontar o movimento pendular dos sentidos que se engendram nas obras de arte, que nunca se querem unívocos.
A questão da linguagem no problema da comunicabilidade vai aparecer também em Marcha para Zenturo, criação do Espanca! com o Grupo XIX de Teatro, que vai fechar o ACTO2. Ali, também, há um ruído forte na comunicação verbal entre os personagens e a tentativa de fazer ver o outro, de fazer ouvir o outro, através de uma personagem que percebe o desencaixe dos diálogos – também uma espécie, um pouco enviesada, de tradutor.
Toda materialidade é tradução de uma ideia: um movimento dançado, uma frase dita, uma imagem engendrada no palco, tudo isso é tradução. O espectador, por sua vez, faz a sua contratradução, lê, interpreta, pensa o que vê sem que seja imprescindível uma legenda, um discurso explicativo qualquer. A gradual diminuição da intervenção da tradutora (e a tentativa de Payá de simplesmente imitar o som da fala de Reluma, que ela não entende totalmente) sinaliza esse processo generoso sugerido por Congresso Internacional do Medo: o de aprender a ouvir com os próprios ouvidos para decifrar a linguagem do outro.
Referências bibliográficas:
RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual; tradução de Lílian do Valle – Belo Horizonte: Autêntica, 2005. (Coleção Educação: Experiência e Sentido, 1)
Nina Caetano:
TEXTURAS PURAS DA CENA
publicado no blogue desautoria
Sábado, 19 de Julho de 2008
O dramaturgo-encenador é um pintor que dispõe de uma paleta viva; o ator guia sua mão na escolha das cores vivas, na sua mistura, na sua disposição; depois, penetra ele próprio nessa luz, e realiza, em duração, o que o pintor só teria podido conceber no espaço.
(Adolphe Appia)
Textura é o aspecto de uma superfície ou seja, a “pele” de uma forma, que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. As texturas artificiais – e acena é uma delas – resultam da intervenção humana através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipualados. Em música, textura é a qualidade global do som de uma obra musical, mas freqüentemente definida pelo número de vozes na música e na relação entre essa vozes. Uma textura polifônica, em música – como no teatro – contém duas ou mais linhas de voz independentes. Como tecer as diversas vozes presentes na criação?
Aposta do Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil – que a cada dois anos viabiliza um projeto de montagem a ser apresentado em todos os festivais de teatro que o integram (Festival Internacional de Londrina, Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, Porto Alegre em Cena, Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte, Cena Contemporânea Festival Internacional de Teatro de Brasília e riocenacontemporânea) Congresso Internacional do Medo, montagem realizada pelo grupo Espanca!, de Minas Gerais, é uma aula de inquietude e rigor cênico. Realizado em processo colaborativo – e ainda em processo – a partir do título de Carlos Drummond de Andrade, essa montagem talvez seja o exemplo mais acabado do conceito proposto para esse edição do FIT São José do Rio Preto, expresso por Luis Fernando Ramos no provocativo ensaio que integra a revista do Festival. Diz ele: “Pensar a drmaturgia da cena (…) como puro opsis, matéria concreta tornada visível, textura. Nessa hipótese, criar uma cena menos do que tecer um novelo de ações (…) seria construir uma semântica de superfícies, tessitura de cores e imagens, apresentação de objetos não previamente identificados”.
Precisamente é o que se vê na cena urdida pela insólita artesã diretora dramaturga orquestradora de vozes Grace Passô. No palco, uma mesa de tronco sobre um tablado coberto por um tapete pele de vaca. À direita e a à esquerda, ao fundo, dois vasos grandes de planta. À frente, à esquerda, um enorme filtro de água. Ao fundo, à direita, uma cadeira de rodas. Estranha mistura em que a limpeza quase asséptica do cenário contrasta com os elementos naturais que o compõem. Terceiro sinal. As luzes se apagam. No escuro, corpos adentram o palco. Suspensão. Ainda no escuro, eles se movem. Pequenos flashes de luz formam quadros à sua passagem. Suspensão. Algo que já não está ali se instala. O congresso. O tempo da construção. Silêncio. Nada está dado. Os congressistas, cinco, vestidos de branco, se instalam na mesa. Representarão culturas nações diferentes, dado manifesto nas vestimentas que trajam. Índios. Um ocidental. Oriente Médio. Os bailarinos, com quimonos pretos, instalam-se próximos ao filtro. Na cadeira de rodas, a tradutora. Mais que personagens, os seres que transitam em cena são quase metáforas construídas a partir de traços que negam a reprodução mimética. A mulher encoberta, o homem dos animais, o homem das utopias…
Jogando com simultaneidades, superposições de discursos e sistemas, passagens quase em fade, a insólita Grace tece pura dramaturgia da cena. São elementos poderosos desse jogo a interessante manipulação do discurso verbal, em que línguas inventadas se misturam ao registro poético do habitante da Ilha do Cedro/Pau Brasil. Interessante jogo de perversão de sentidos entre a palavra expressa e a tradução da palavra. O jogo poético com as palavras, as palavras em outras línguas, desconstroem constroem outros sentidos. Bem como a presença dança dos bailarinos peixes em extinção, outras camadas. E as camadas sentidos significados vão sendo construídas – repito, aqui nada é dado – não só pela cena, mas também por nós que, sentados nas cadeiras da platéia, somos chamados a sacrificar nossa passividade confortadora e, ativos espectadores dessa cena múltipla, rugosa, também criar. Aqui, ontem, nós também parimos.
Valmir Santos:
A REIMAGINAÇÃO NO PODER
publicado no site Teatro Jornal em 10/08/2014
A tarefa da crítica no teatro costuma ser empobrecida quando toma o texto em si como plataforma. A arte de nosso tempo é lida pelo texto da encenação, a totalidade da dança dos corpos e demais signos em cena. Na dramaturgia de Grace Passô, e particularmente em Congresso internacional do medo (2008), peça da safra colaborativa com o Grupo Espanca! e escalada para a 9ª Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, a matéria da palavra converte-se ela mesma em fulcro. Impossível mergulhar no oceano simbólico sem ser capturado pelos estalos verbais ou pelas “correspondências sensíveis” de que falava Baudelaire. A natureza da tradução, ofício deveras literário, ganha status de forma e conteúdo nesse espetáculo de poderes encantatórios (a transubstanciação está lá) pelas ideias e imagens que instaura.
Traduzir e criar são verbos univitelinos. O poeta e tradutor concretista Haroldo de Campos pescava isso como transcriações, transluminuras ou reimaginações, para lançar alguns dos neologismos que cunhava. O caráter expositivo da reunião de especialistas arquitetada por Passô faz da oralidade o principal veículo das línguas e das culturas em sua maioria inventadas, ou melhor, reinventadas. Em vez do temor inscrito sob ângulos geopolíticos e afins, como sugere o simulacro institucional, as abordagens dominantes versam sobre as condições subjetivas da vida e da morte, esta não como oposição àquela, mas sua essência.
Em atuação de Gláucia Vandeveld, a figura da Tradutora serve de dínamo. Sentada na cadeira de rodas e sugerindo ar combalido de quem milita há anos na profissão, ela devolve ao público, às vezes com alguma dissimulação, aquilo que os representantes estrangeiros dizem para a audiência ou uns aos outros. A peça deriva dessas triangulações. Uma vez que traduzir implica um bocado de traição e parte dos que estão na mesa transita o português, o espectador acaba incitado a apurar sua escuta para preencher as lacunas e atar as complementariedades e atritos semânticos que a dramaturgia pede.
Nesse território fértil da linguagem, da vivificação da palavra, a presença de um índio de uma nação imaginária, trazendo sua irmã a tiracolo, introduz dados da realidade e da identidade brasileiras nessa operação. O cocar e o tênis do homem originário, bem como o canto que a irmã evoca, sintetizam o mal estar de uma civilização desafiada a traduzir a si mesma. No caso da congressista representante de um país inventado, mas que se existisse estaria cravado no Oriente Médio – a burca assim indica –, ela elogio os finais felizes dos contos de fada infantis, independente do medo que possam despertar, e tampouco é estigmatizada pela sua cultura como o noticiário insiste em bombardear.
Importa menos sobre o que todos estão falando e mais as sinestesias construídas ou subvertidas na percepção da Tradutora. Mesmo quando a língua dita não é identificável pairam níveis de entendimento nas entrelinhas desse “fonemol” (lembrando Antunes Filho), para não dizer das outras intencionalidades do gesto, do olhar e do movimento.
Aos atores, o exercício de encontrar analogias e distanciamentos nessa babel dissonante requer estado de atenção redobrado. Todos equilibram bem o ato de comunicar o pensamento neutro embebido em outro idioma. A Tradutora de Vandeveld é um capítulo à parte pela função que lhe cabe e pela atriz demonstrar sobriedade e espanto lapidares.
Neutralidade, digamos, dissolvida na reta final do drama, quando o diz que diz fica em segundo plano e a sintonia universal floresce nos teimosos resquícios de humanidade. Emblemáticas, para tanto, as passagens em que o público capta as ironias sutis e ri dessa bendita estrutura capciosa que a autora e diretora descortina com o Espanca!, grupo de Belo Horizonte pautado pela pesquisa e intertextualidade estilística desde a primeira produção, Por Elise (2004).
O espaço cênico desenhado pelo diretor de arte Renato Bolelli imprime o branco dominante, no piso e no fundo, sugerindo a página vazia do livro a ser escrito. O ambiente do congresso compõe como que um aquário mimetizado do pequeno reservatório redondo de vidro que um dos palestrantes, um estudioso de peixes, traz à mesa. Mesa equivalente a um tronco talhado. Vasos de plantas espalhados e a presença contínua e ruidosa, no melhor sentido, de casal de dançarinos cativos de expressões ondulares ajudam a referenciar a submersão. São satélites do que não vem à tona, o inconsciente que às vezes sangra também. Os modos como esse não lugar também saudará a chegada de uma nova vida e a partida de outra condensam a sublimação de uma poética crítica em Congresso internacional do medo.
.:. Texto escrito no âmbito da IX Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo. A organização convidou a DocumentaCena – Plataforma de Crítica para a cobertura do festival, iniciativa que envolve os espaços digitais Horizonte da Cena, Satisfeita, Yolanda?, Questão de Crítica e Teatrojornal.
Uma experiência do tempo, do espaço e da visão, de Damaris Grün
O reveillón do silêncio, de Gabriela Melão
Um prólogo: pelo prisma do horizonte brasileiro de expectativas, de Paulo Arantes
O processo teatro (notas para um programa de trabalho), de José Fernando Azevedo
Damaris Grün
UMA EXPERIÊNCIA DO TEMPO, DO ESPAÇO E DA VISÃO
publicado no site questaodecritica.com.br
Assistir a um espetáculo como Marcha para Zenturo é poder dizer que partilhamos de uma experiência teatral que aborda uma das questões mais caras ao drama: a do tempo. Não que essa peça seja um modelo perfeito do drama mais convencional, como os modelos que podemos destacar em Henrik Ibsen ou Anton Tchekov, mesmo que nos dois autores a crise da forma dramática já esteja instaurada e embora possamos perceber a maestria dramatúrgica que chega a velar essa crise, sabemos que suas escritas não procuram seguir à risca o modelo depièce-bien-faite do drama clássico. O que a dramaturgia e a cena de Marcha para Zenturoapresentam são indícios de uma estrutura dramática no seu sentido mais singular, que pode ser exemplificada por Peter Szondi no livro Teoria do drama moderno: uma espécie de corte na cronologia, o domínio absoluto do diálogo intersubjetivo e o passado que se irrompe no presente dos diálogos ou aparece atualizado como próprio tema. É o caso da peça do Grupo XIX de Teatro e do Espanca!, duas importantes companhias do cenário teatral paulista e mineiro que se uniram para realizar um espetáculo onde o tempo (passado, presente e futuro conjugados de forma simbiótica), o “ver o outro” (a experiência do olhar o outro e ver a si) e uma melancolia que beira uma renúncia da vida (como aqueles personagens de Tchekhov) são questões primordiais para o que propõem em cena nesse belo espetáculo.
Começo pela experiência do tempo tematizada no espetáculo. Parecendo ser o pretexto para essa montagem, a questão pode ser percebida desde o princípio no texto de apresentação do programa da peça. Fala-se de uma “co-habitação de um mesmo tempo e espaço de criação”. Desde essa primeira informação e no decorrer do espetáculo, a questão do passado, do presente e do futuro exposto na ação e no texto aparece como uma referência norteadora dessa criação artística, assim como o espaço redimensionado na cena entre personagens e plateia, na medida em que se ocupa um lugar comprimido pela ação temporal.
A história se passa num fictício 2441, quando, nas ruas de uma cidade, acontece uma série de manifestações: a marcha para Zenturo. Cinco grandes amigos, Noema (Janaína Leite), Patalá (Marcelo Castro), Gordo (Gustavo Bones), Lóri (Juliana Sanches) e Marco (Rodolfo Amorim) se reúnem para comemorar a passagem de ano e relembrar o passado, falar do presente e festejar o futuro. Falam do que são, do que foram e o que poderão ser num futuro tão presente. Mas estranhamente não conseguem se relacionar de verdade, não olham um no olho do outro, não são sequer capazes de tirar uma foto juntos. Quando uma trupe de teatro composta por três irmãos (Ronaldo Serruya, Paulo Celestino e Grace Passô) chega à casa para encenar uma peça – que também fala sobre o tempo –, os espaços, visões e tempos dos amigos e da trupe se envolvem e se confundem. O presente vai se impor para todos ali.
Tanto os personagens que se encontram para comemorar o Réveillon como a trupe que encena para eles trazem em seu bojo uma referência ao universo dos personagens tchekhovianos: uma nostalgia no olhar e nas falas remetem sempre a um passado, desejam um futuro distante e pulsam numa certa inadequação do presente. Vivem, assim, uma espécie de renúncia destacada pelo próprio Szondi em sua análise de Tchekhov:
“Nos dramas de Tchekhov os homens vivem sob o signo da renúncia. A renúncia ao presente e à comunicação: a renúncia à felicidade em um encontro real. (…)A renúncia ao presente é a vida na lembrança e na utopia, a renúncia ao encontro é a solidão. As três irmãs representa exclusivamente seres solitários, ébrios de lembranças, sonhadores do futuro.” (SZONDI: 2001, 46)
O tempo da “encenação na encenação” é o tempo em que a personagem cozinha a calda para um bolo. Três irmãos conversam sobre suas vidas, a família – como o caçula cresceu – e falam de uma Moscou de outrora, de suas lembranças e desejos vindouros na cidade, onde a relação com a história das personagens de As três irmãs, a meu ver, se estabelece. Mas é na forma como aqueles cinco amigos que assistem à peça se relacionam que o paralelo pode ser traçado: vivem uma vida regada pelas lembranças de um passado que não lhes pertence mais. Estão num espaço entre esse presente inadequado de suas vidas e o futuro por vir que não parece poder se concretizar. Não conseguem efetivamente perceber o outro e as mudanças que a ação do tempo engendrou em cada um. Vivem uma inadequação naquele espaço, estão juntos para celebrar o futuro (o Réveillon), mas não conseguem estar no aqui e agora do presente que os cerca. Suas falas parecem pairar na superficialidade. Pergunta-se para um e outro responde algo completamente descompassado. Em momento algum da encenação eles se olham nos olhos. Nesse sentido, o personagem Marco, o quinto amigo e último a chegar, é aquele que consegue perceber o estado de presença-ausente de seus amigos. Há uma pista na peça de que esse personagem seria o motivo pelo qual aquelas pessoas resolveram se encontrar, pois Marco estaria com problemas. É interessante que o personagem que enxerga e olha de verdade, a realidade e o outro seja, na visão dos amigos, aquele que passa por problemas.
Esse personagem, deflagrador da instabilidade daqueles seres diante da presença dos outros, chega na casa carregando sacos de gelo. Sua chegada é recebida com festa e, nesse momento, os atores espalham pelo espaço o gelo trazido por ele. O chão da cena fica quase totalmente encoberto por pedras de gelo, sobre as quais os atores caminham com dificuldade, mas imprimindo uma naturalidade para aquela situação. A ideia do gelo evoca mais uma vez o tempo, no sentido de algo que se cristaliza no instante de um acontecimento: o gelo como forma de conservação de algo diante da ação do próprio tempo; e sua durabilidade, que pode ser experienciada pela plateia enquanto a cena se desenrola.
O espaço da cena é bastante delimitado. Imprime uma sensação de cenário de um filme futurista (luz neon, o roxo que salta aos olhos, o plástico, o gelo) em contraste com uma cadeira de balanço, outra referência à questão do tempo na peça. Marcas de tempos opostos que se tensionam em cena. À medida que cada um vai adentrando no lugar, esse espaço aparentemente enxuto fica cada vez menor, comprimindo aquelas pessoas. Nesse espaço pequeno, com o chão escorregadio pelo gelo que derrete, os atores se movimentam constantemente, sem se esbarrar e sem olhar um no outro. Esse espaço dividido por esses personagens e depois pelos três irmãos da trupe, que não conseguem ir embora pois “as ruas estão tomadas por manifestantes”, só é rompido quando todos olham por uma janela, com a intenção de ver a manifestação. Neste que é um dos momentos mais bonitos da peça, os atores estão posicionados como num quadro, vendo o fora que se materializa, que se reflete na plateia. A relação que estabelecem é de espanto com o que se vê do outro lado: espectadores sentados em fileiras. A peça parece tensionar a posição ocupada por quem assiste àquela ação. Desse modo, o personagem que vê, interpretado por Rodolfo Amorim, rompe o espaço da cena e fala diretamente para a plateia, quebrando totalmente a forma de relação que até então estava estabelecida entre cena e público, gerando uma instabilidade no espectador, que se vê e vê o outro ao seu lado. Um silêncio domina o espaço e reverbera na ação direta do tempo que ultrapassa a cena.
Em outro momento muito importante da encenação, quando todos saem de cena, há uma projeção da própria plateia no presente momento da peça. Há uma suspensão no tempo: aquele que somente vê o outro vê a si próprio no ato de ver. O espectador compartilha com outro espectador a experiência daquele instante ao se ver projetado ao vivo. Agora, quem estava na situação de contemplação do outro contempla a si mesmo, como um espelho. Experencia-se de fato essa questão do tempo e da visão tão bem construídos na direção de Luiz Fernando Marques e na dramaturgia de Grace Passô. Um jogo dos tempos, espaços e visões que se concretiza na cena de Marcha para Zenturo.
Em uma era de relações dialógicas instantâneas em que as pessoas procuram se comunicar (com limite de caracteres), se divulgar, serem vistas, 2441 está logo aí. Poderá ser um tempo em que não conseguiremos mais olhar no olho do outro, ou viveremos num estado de renúncia da própria vida e do que ela fez de nós. Seremos seres anacrônicos como os personagens da peça e talvez tenhamos o mesmo triste final. Nesse sentido, a experiência engendrada pelos grupos de co-habitarem um mesmo espaço e tempo de criação relacional revelou-se uma experiência coletiva entre suas trajetórias e com o público que assiste Marcha para Zenturo.
Referência bibliográfica:
SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno. Tradução: Luiz Sérgio Repa. São Paulo: 2001, Cosac e Naify Edições.
Gabriela Melão
O RÉVEILLON DO SILÊNCIO
publicado na revista Bravo de setembro de 2010
“Marcha Para Zenturo” coloca em cena amigos que não se comunicam. O espetáculo junta duas das mais criativas companhias do teatro atual, Espanca! e Grupo XIX de Teatro
Dois entre os grupos mais inquietos e inventivos da cena teatral recente se juntaram para refletir sobre a percepção que temos de tempo nos dias de hoje. Em encontro inédito, a companhia Espanca!, de Belo Horizonte, e o Grupo XIX de Teatro, de São Paulo, apresentam no Rio de Janeiro Marcha Para Zenturo – o espetáculo havia tido sua estreia no Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, SP. A peça reúne a herança genética valiosa – e, o que é melhor, distinta – das duas companhias. Destaca-se em Marcha Para Zenturo a investigação do Grupo XIX de Teatro em torno do diálogo com o público. Ao mesmo tempo, marca presença em cena a busca fecunda do Espanca! em rever códigos do teatro.
Na trama, amigos comemoram a passagem de ano do Réveillon de 2441, depois de 18 anos sem se verem. O encontro revela-se tão esfuziante quanto solitário. Os personagens interagem de modo estranho. Os olhos nunca se encontram. A conversa não flui – a resposta de uma pergunta chega com atraso. São incapazes de notar, por exemplo, a barriga proeminente da dona da casa – nem ela própria parece se dar conta de sua gravidez. Somente dois personagens têm uma percepção verdadeira do tempo: um pescador, num mundo em que não há mais peixes, e um artista, por meio da peça teatral que apresenta aos amigos como presente de ano novo.
PLATEIA FILMADA
O diretor Luiz Fernando Marques, do Grupo XIX de Teatro, concretiza em marcas precisas os lapsos de tempo trabalhados no texto de Grace Passô, dramaturga do Espanca! e uma das autoras teatrais mais talentosas da nova geração. A participação do público se estabelece quando a plateia é filmada no fim do espetáculo, e a gravação é exibida com alguns segundos de atraso. O espectador percebe na pele a falta de sincronia de que fala a peça.
O descompasso entre o tempo real e o percebido pelos personagens faz com que o elenco crie uma verdadeira coreografia em cena, que é, entretanto, dificultada pelo cenário futurista. Ao longo da peça ele derrete, o que faz com que os atores tenham receio de andar. Além disso, o gelo que derrete se revela uma metáfora um tanto óbvia para o desvanecimento do tempo. Cheia de experimentações, que, no entanto, não atravancam o jogo que a dramaturga e o diretor propõem, a peça atinge o público em cheio. Palco e plateia conseguem o que os personagens não logram entre eles: uma comunicação forte, profunda e efetiva.
Paulo Arantes
UM PRÓLOGO: PELO PRISMA DO HORIZONTE BRASILEIRO DE EXPECTATIVAS
publicado no livro Próximo Ato: Teatro de Grupo, do Itau Cultural
Sentando agora para conversar [1] novamente sobre as idas e vindas do teatro de grupo em
São Paulo, não posso deixar de pensar na entrevista que a Beth Néspoli, do jornal O Estado de S. Paulo, conseguiu, sabe-se lá como, arrancar de mim em 2007 [2]. Não estou evocando o fato unicamente por razões sentimentais, mas para deixar registrado que, de lá para cá, uma tremenda reviravolta ocorreu no que se poderia chamar, na falta de melhor juízo sobre algo tão difuso, sentimento brasileiro do mundo. Tratando-se além do mais de um país veleidoso, nossa conjuntura mental mudou de sinal da noite para o dia, positivou-se de vez, todas as camadas sociais e setores confundidos, ou melhor, embaralhados. Seria outra miragem na costumeira procissão brasileira de milagres? Seja o que for essa fantasmagoria emergente de agora, não é menos verdade que a matéria espectral dela, devidamente filtrada pela inconsciência coletiva, constitui uma fantasia social em estado bruto, cuja existência não pode ser ignorada em cena, sobretudo sendo o teatro uma arte por excelência da citação e uma correspondente invenção da ordem do dia na qual ela se encaixará.
Não estou desconversando, apenas periodizando. Posso dar até algumas datas, para melhor ressaltar o contraste entre os extremos desse curtíssimo período em que nosso sentimento do mundo virou de cabeça para baixo. Quem foi dormir desalentado, por exemplo, nos idos de 2007, só para manter a conversa com a Beth, acordou dois anos depois ao som de um samba rasgado, o samba do agora-vai, do Brasil em via de dar certo, agora com o vento do capitalismo global soprando a favor. Ao falar em desalento, estou obviamente citando, no caso, o sexto sentido de uma jornalista (a rigor mais de uma) que recolheu manifestações avulsas de grandes personagens da vida cultural e política, a seu ver convergentes, inclusive no mesmo mês da entrevista, vai lá saber o porquê, na certeza de que o horizonte do país decididamente encurtara. Não sem paradoxo, pois nossos maiorais sentiam-se encolher sob um dilúvio de dólares.
Há sem dúvida algo de surreal nessa novela das expectativas decrescentes conforme os dois últimos ciclos presidenciais acionavam um novo regime de acumulação em marcha forçada. Até que tal evidência fantasmagórica se impôs. Para variar, de fora para dentro, sendo ainda mais do que nunca predominante o influxo externo. Não me refiro apenas às usuais avalanches da mídia internacional de negócios, elegendo o Brasil como “Eldorado econômico”, mas também à percepção de uma ensaísta experiente e conhecedora de nossas incongruências, como Beatriz Sarlo. É fato que ela se encontra ainda em estado de choque com o colapso argentino e, por isso, ainda mais convencida de que, na cidade desconforme de São Paulo, não só pulsa o coração do futuro, como também não vislumbra, em sua viagem venturosa da periferia para o centro, nenhuma nuvem no horizonte do Brasil. Isso visto e dito faz pouco, 2009, depois de atravessarmos a crise do núcleo central do sistema sem maiores traumas, ao que se diz nos meios ganhadores. É bem verdade que a mesma Beatriz Sarlo não descarta a hipótese desta pulsação futurista se converter num pesadelo. Nesse caso, vale o lembrete do poeta Airton Páschoa: “O horizonte sorri de longe, arreganha os dentes de perto”.
Salvo engano, acho que não estou fabricando um falso problema, por isso insisto ainda em correr pela faixa superior de nossa conjuntura mental, a meu ver matéria viva de qualquer proposta de mise-en-scène do tempo presente. Assim, em 2007 é geral a percepção histórica de que o horizonte do país encurtou de vez. Em 2009, o realejo oficial do “nunca antes neste país” alcança finalmente as altas paragens da ideologia brasileira. Mais de um coração veterano vê a luz de sua juventude do contra se reacender: o subdesenvolvimento ficou para trás, uma revolução silenciosa está recolocando o país no rumo que a violência de 1964 abortara. Mito ou nonsense, o fato é que essa sensação coletiva de que o futuro já é o presente (lido em registro distópico: que o presente é o seu próprio futuro; pelo menos foi o que pressenti assistindo à peça Marcha para Zenturo) roubou o fôlego de toda uma tradição crítica.
Como observou recentemente outro bom conhecedor do Brasil, Perry Anderson, cobrindo as marchas e contramarchas das últimas eleições presidenciais, é mais do que visível o declínio da energia política de nossa vida cultural. Um senhor disparate: no momento em que o país decola na capa das revistas do circuito Elizabeth Arden da ortodoxia econômica, ideias originais a respeito do ocorrido – supondo-se que ocorreu – escasseiam miseravelmente. Um descompasso a ser pensado, pois o déficit não é só nosso e parece afetar toda a semiperiferia emergente. Basta olhar para a China, da qual arriscamos nos tornar uma outra periferia: sua ressurreição miraculosa alimenta no Ocidente uma enxurrada de interpretações de todo tipo; em compensação, no epicentro mesmo deste terremoto mundial, nem sombra de alguma narrativa alternativa acerca do curso do mundo que estão desviando.
Não faltará quem observe que é sempre assim. Quem se integra não critica, simplesmente abre caminho distribuindo cotoveladas e mesuras a torto e a direito. Nem sempre. A tradição crítica brasileira, cuja exaustão acabamos de evocar, foi justamente um longo comentário dissonante em confronto permanente com a normalidade capitalista do núcleo orgânico, cuja riqueza oligárquica em princípio nos subalternizava. Foi assim com o estouro modernista a partir dos anos 1930, quando as cartas do jogo mundial estavam sendo redistribuídas; foi novamente assim nos idos de 1950 e 1960, quando as turbulências da descolonização, em sentido amplo, ao impedir que progresso rimasse com acatamento, injetaram um sopro novo nas formas de imaginar artisticamente os antagonismos do país.
Hoje o cenário de um tempo oficial e infiltrado no sentimento popular parece comportar uma nota aberrante: no momento em que a história se volta para o nosso lado – entendendo-se por história pouco mais do que uma escada rolante – e o horizonte se desanuvia, intensifica-se mais do que a mera sensação de pensamento paralisado. Refiro-me, é claro, aos veneráveis restos mortais da esquerda. Pois a direita, com sangue novo circulando nas veias, vai muito bem, obrigada! Outra nota aberrante: para todos os efeitos, o governo, há oito anos e alguns meses, é democrático-popular, pouco importa se numa versão degradada dos dois termos, e, no entanto, desta vez a hegemonia cultural é da direita; não, é claro, a barra pesada de sempre, ninguém conseguiria imaginar o agronegócio inspirando um ciclo memorialístico no cinema brasileiro. O jogo agora é outro, em seu nome se conjugam uma rara combinação de suprema elegância e poder.
*
A visão desalentada de há pouco pode ser creditada, em sua formulação mais límpida, ao cineasta João Moreira Salles, que numa entrevista (2007 de novo) disparou: “Sim, o horizonte do Brasil encurtou, pois nossas ambições se tornaram mais medíocres”. Entretanto, a que veio esse diagnóstico de época? Vinha a propósito do lançamento do filme-documentário sobre as memórias do mordomo que serviu sua família durante três décadas. De fato, Santiago, o mordomo que envergava fraque para tocar Beethoven nos conformes, seria o segundo personagem no projeto original do filme. O papel principal caberia, no momento da primeira filmagem (1993), à mansão da família, uma casa abandonada, cujo esqueleto por certo funcionaria como alegoria de um país que parecia não fazer mais sentido – o tiro encomendado a Fernando Collor acabara de sair pela culatra, como se pode ver nas cenas inicias de Terra Estrangeira¸ do outro irmão cineasta, e na imagem chapada do navio em ruínas encalhado na praia, mas a segunda chance logo despontaria na eleição do segundo Fernando. O filme evocaria assim o antigo esplendor da ilustre casa Moreira Salles, porém filtrado pelo delírio de um esnobe profissional, com a enumeração visual dos destroços do presente. Quais emblemas seriam escolhidos, para além do foco na casa abandonada, não saberemos, pois o filme de fato realizado submergiu a ideia original no oceano de fantasias de um personagem limítrofe, no fundo bem menos interessante do que o contraponto alegórico projetado inicialmente. Nele, o horizonte perdido certamente comportaria variações em torno de promessas não cumpridas, grandes rumos e extravios não menos desastrosos. Numa palavra, um desmanche visto do alto, e de que altura!
E o nosso horizonte de expectativas, por onde andará? Mais encardido por certo, não deixa de ser um primo pobre, de qualquer modo parente próximo. É só pôr um pouquinho a mão na consciência e verificar se as duas visões não são regidas pela mesma gramática forjada em nossa famigerada tradição crítica. A interminável novela da “construção interrompida” que o diga, são incontáveis suas variantes em ambos os registros. Até ser substituída pela súbita avalanche das “retomadas” disto e daquilo, com o futuro batendo à porta, sem, no entanto, precisar anunciar ou prenunciar nada, pois simplesmente já começou; encontra-se instalado no presente. Aliás, como assinalado há pouco, nada mais assustadoramente distópico do que essa inundação do presente pelo futuro. De resto, paralisa tanto quanto cantar em prosa e verso o leite derramado.
E por falar em Chico Buarque, um comentário exaustivo de Carioca, pelo crítico Walter Garcia, revela uma derradeira figuração do homem cordial, ou melhor, o limite de sua proverbial simpatia, com a qual recobre uma degradação que apenas observa sem dela participar; experiência estética precipitada por um pregão de rua estilizado pelo horizonte zerado de que estamos falando. Um ideólogo perspicaz dessa vertente do homem cordial e do que até anteontem aparecia como desmanche, forma como se convencionou denominar os escombros colecionados de uma sociedade salarial que nunca existiu, não se acanhou de chamar o conjunto da obra (Carioca) de “nosso suave fiasco histórico em que, afinal, nada acontece”. Mas, se andávamos em roda, era por causa do tamanho diminuído de medíocres ambições, fechando o círculo de um “nós” muito característico desse abraço hegemônico.
E de repente nasceu o sol, o sol absoluto de um presente que se estende igualando-se ao futuro. Não tão de repente assim, trata-se de uma percepção historicamente construída, que redunda na aceitação do tempo presente identificado com o novo mundo de amanhã e
de cujas exigências é preciso urgentemente correr atrás, como mostrou a socióloga Regina Magalhães de Souza, analisando o jargão específico do assim chamado protagonismo juvenil, produzido faz algum tempo pelo braço social das grandes corporações, agências estatais de assistência, educadores etc. Quando o sol da nova conjuntura raiou, já estava armada a moldura de sua recepção milenarista.
Vejam só o luxo! Pelo alto, desalento com as ambições apequenadas, enquanto, no chão da fábrica social, agitação frenética mobilizando até trabalho que não sabe que é trabalho, pois o novo regime de acumulação e governo demanda uma sociedade-civil-ativa-e-propositiva, um horizonte semovente tão rente ao solo do presente que qualquer fantasia a respeito do outro lado do espelho se apresenta como um “salto alucinatório”, nas palavras do cientista político Renato Lessa.
Quanto a nós, nós nos dissociamos, como vocês mesmos observaram tantas vezes. Desalento a menos (não é possível “representar” tal desalento a não ser aquecido por uma outra energia política – alguns movimentos sociais falam em “mística”), os grupos teatrais prosseguem na crônica do desmanche e seus impasses, enquanto a boa sociedade continua arrecadando os dividendos da sua gestão. Por maior que seja a miragem do céu de brigadeiro em nossa rota ascendente, não é menor a sensação de estar sendo engolido pela rotinização de nosso primeiro diagnóstico de combate. Acho que tem coisa nessa reversão extemporânea de perspectivas. Ambas fictícias, de resto, embora se trate de uma fantasia objetiva e por isso operante. Tanto no polo negativo das ambições baratas, porém desfrutáveis por um bloco dominante muito à vontade na vida, quanto no polo alterno desse pêndulo, autocongratulação pelo parto de uma “sociedade emergente”, para a qual obviamente só o céu é o limite. Pois interessa, política e artisticamente, escavar no ponto cego dessa engrenagem a um tempo fantasmagórica e tangível, atinar com a força disruptiva eventualmente adormecida nessa experiência, de fato inédita, de que o horizonte de espera do mundo se concentrou no presente. Noutros tempos, esse mesmo horizonte de expectativas pairava muito acima e além da fronteira próxima do herdado e já sabido. Abstrato? Mas sentimos na pele do abafo diário, por exemplo, na jaula da tirania da pequena política (ou alta polícia?), que se expressa numa conjuntura perene que não ata nem desata.
Posso estar muito enganado, mas acho que foi no encalço desse ponto cego, iluminando o aparente vazio homogêneo em que mergulhou o tempo brasileiro, que partiu Eduardo Coutinho ao arriscar o tudo ou nada com o filme Moscou e, mais revelador ainda, que tenha confiado a missão ao livre jogo de um grupo teatral com as características do Galpão. Coutinho não sabe o que fazer? Pelo contrário, esse voo cego é indício seguro de que ele se acercou daquele ponto de indistinção provisória entre utopia e distopia, se não for filosofar demais, justamente no lugar onde, numa era de expectativas decrescentes, é feita a experiência bruta da história. Qualquer ambientalista coerente e radical sabe disso. Salvo o vocabulário, não estou dizendo nada de mais. Por exemplo, que por história, experimentada como tal, em sua acepção moderna mais enfática, pode-se entender que algo está acontecendo e vindo em nossa direção, como (para falar como um teórico alemão) o intervalo entre o espaço da experiência ocorrida e consolidada, quando o horizonte de expectativas se distende ao máximo. Por isso o Galileu de Brecht não poderia ser mais preciso no seu sentimento de que um tempo novo começara ao proclamar: “Já faz cem anos que a humanidade está esperando alguma coisa”. Estouro e libertação, no caso. Quando aquele intervalo evapora, como dar a réplica contemporânea à grande viagem anunciada por Galileu? Como o canto do jovem Andrea Sarti já não pode ser mais entoado sem desafinar – “ó manhã dos inícios, ó sopro do vento que vem de terras novas!” –, e ninguém se exporia ao ridículo de personificar na fome chinesa por commodities a brisa transoceânica de uma nova modernidade, resta, entre tantas variantes, a travessia do navio amotinado pelos náufragos do trabalho imigrante que encerra o Êxodo segundo o Folias d’Arte. Como também faz pensar – para voltar à superposição de há pouco, ir para Moscou/voltar para Moscou – a súbita irrupção das Três Irmãs de Tchékhov num intermezzo paródico da citada Marcha para Zenturo.
Mas retornemos à turma do desalento, ou, por outra, ao polo intelectual dominante em plena temporada de melancolia e desambição. Não se trata de mero jogo de cena, algum sexto sentido mais entranhado no mal-estar do privilégio numa sociedade de horrores
talvez os deixe incompreensivelmente insensíveis ao esforço de atualização do capitalismo empreendido por seus pares operantes. De qualquer modo, um desafogo que só o triunfo permite e decididamente nos deixou para trás comendo poeira. A hegemonia cultural da
direita, mais do que um fato, é uma tremenda novidade histórica, e não estou me referindo a um presumido efeito colateral da óbvia prevalência do governo financeiro da acumulação etc. etc. Enquanto não virarmos esse disco, continuaremos mordendo o pó. Voltemos então à matéria bruta ideológica que a meu ver o próximo ato do movimento teatral não pode deixar de levar em conta.
O que se quer dizer afinal quando se afirma que o horizonte do país encurtou? E não se trata de uma anomalia nacional. Na virada para os anos 1980, congelada a agitação social dos anos 1970, o discurso indireto do apagamento do futuro, sob as mais variadas denominações, também se instalou na vida mental do núcleo orgânico do sistema. Para não esquecer: a percepção de horizonte encolhido também ocorre por motivo inverso, de transfiguração do presente como pura expectativa de si mesmo. Tudo se passa, desde então, como se circulassem à volta do mesmo ponto o êxtase meia oito – jouir sans entrave, vivre sans temps mort etc. – e sua ressaca perpétua, círculo vicioso do novo período, para o qual devemos procurar uma resposta materialista, antes de passar sem mais aos diagnósticos exigidos pelas várias subjetivações em curso.
Eis então uma outra amostra da subjetivação à brasileira de todo esse falso movimento. De volta ao nosso cineasta, de fato um desbravador. Na entrevista citada, “As ambições do Brasil se tornaram mais medíocres” (quem diria, na antevéspera de uma apoteose mental coletiva, sustentar que “o país tem menos rumo do que tinha na década de 1950; que a promessa do Brasil era maior; que a gente podia imaginar que o país seria melhor na virada da década de 1950 do que imaginar hoje o que será o país daqui a dez anos”), João Moreira Salles adverte a jornalista de que sim, o horizonte encurtou. “Tornou-se mais medíocre. Não estou dizendo que o Brasil é um país medíocre. Essa é a frase do [presidente] Fernando Henrique [3].” Com efeito. Numa reportagem-comentário, “O andarilho”, o cineasta acompanhou durante dez dias as andanças do ex-presidente, recolhendo material rotineiro para uma montagem final nada trivial, justo o contrário, um perfil devastador, no gênero pince-sans-rire – como estava dizendo, enquanto a esquerda liga o ventilador de clichês, o outro lado, de tão à vontade no topo do mundo, oferece a si o prazer especial de entregar de bandeja seus maiorais. Valem para o narrador e seu personagem os benefícios de uma estratégia comum de “autoesculhambação”, devidamente compensada por doses cavalares de autobombo, mas agora no caso exclusivo do retratado, que por sinal se compara a Picasso no quesito “fazer de tudo”, no que estão incluídos a cambalhota e, como diriam nossas avós, fazer fiu-fiu para o distinto público. Com um bom humor saltitante de quem tem uma avenida pela frente, vai fechando janelas, uma depois da outra, para um país que nem mais centro tem; é uma desintegração só, é isto mesmo que aí está, numa palavra, não tem nada, tudo enfim fracassou. Resta por certo a obrigação de ser brasileiro; ofício maçante, para quem já se sente em casa no mundo, esse de não poder deixar de se comprometer por um país que continuará a ser medíocre. Espasmos premonitórios a menos, um verdadeiro personagem de romance russo esparramando-se nalguma estação termal de luxo na Alemanha. Nunca se viram nem se verão expectativas decrescerem tão drasticamente esbanjando tamanha animação. Aliás, já vimos, e a semelhança é tanto mais impressionante porque não foi buscada pelo cineasta-repórter: Brás Cubas, sem tirar nem pôr. Mas o Brás Cubas enfim decifrado por Roberto Schwarz, justamente um Brás Cubas especialista em “desmanchar expectativas no nascedouro”, e no qual chega a ser grandioso “o ânimo vital da mediocridade”. Tempo morto e agitação vertiginosa. Para voltarmos aos termos de nossa equação: horizonte zerado e expansão indefinida.
Mas nada disso justificaria um retrato retroverso do Brasil atual, muito menos congelado num Bentinho centenário, como estilizado no livro Leite Derramado: o preço, o epílogo previsível de uma imensa periferia-desmanche, igualmente estilizada até o osso. Outra coisa é lembrar que Roberto Schwarz, segundo ele mesmo conta, só atinou com a atualidade desnorteante de Machado depois do golpe de 1964 e seus desdobramentos inéditos, destoante dos usuais pronunciamentos militares. Pois a ditadura – militar apenas no que concerne ao trabalho sujo encomendado – inaugurou o novo tempo brasileiro regido por essa lógica com a qual estamos nos defrontando agora, a do sinal fechado num presente inesgotável, aliás profeticamente anunciado pela Tropicália, outra comissão de frente a nos levar às cordas.
Fica a charada desse auge de um inédito grã-finismo intelectual realmente inspirador, pelo menos para quem gosta de remexer em entulho. Num ensaio ainda inédito sobre o carisma pop que os anos Lula consagraram, o psicanalista Tales Ab’Sáber a certa altura sai à cata dos vínculos entre nossa atual condição de fronteira econômica vital para uma nova rodada do sistema global e a consequente participação imaginária no centro da experiência histórica contemporânea – somos inclusive um dos centros do mundo policêntrico da indústria cultural – e a patética redescoberta à direita da forma ensaio e o correspondente surto de publicações chiques a valer (como diria outra vez o saudoso Dâmaso Salcede) que “nos ensinam o quanto não sabíamos escrever como os clássicos modernos norte-americanos”. Quando Chico de Oliveira, por sua vez, resumiu na fórmula certeira, porém de exposição incerta, o enigma da era Lula, “hegemonia às avessas” – querendo dizer que o consentimento dos dominados se transformara no seu avesso: não são mais os dominados que consentem na sua própria exploração, são os capitalistas que consentem em ser politicamente conduzidos pelos dominados, desde que a “direção moral” exercida paradoxalmente por estes últimos não questione a forma da exploração capitalista –, creio que não previra a possibilidade desta variante na divisão dos trabalhos da dominação: a esquerda cuida do capital; a sociedade civil corporativa, do social; e os bancos e afins, da “direção moral” do conjunto, destacando-se pelo capricho na gestão da alta cultura. Só que este último volet da hegemonia de avesso não tem nada, mais direto impossível. É que não estávamos mais acostumados, embora se trate de floração tardia nascida de nosso flanco esquerdo.
*
Não estou subestimando nada, pelo contrário. Não só representa uma enorme reviravolta a vida melhorada e menos desassistida de milhões de trabalhadores pobres brasileiros que só por escárnio foram batizados de “nova classe média”, como no outro extremo, a novidade não menos tremenda para um esquerdista dos tempos do subdesenvolvimento, a jovem constelação de multinacionais brasileiras operando e predando na América Latina e na África. Subimperialismo subsidiado pela finança pública e legitimado pela nomenclatura sindical. Como lembrado muito a propósito por um ensaísta independente e libertário, João Bernardo, não foi muito diferente a estratégia que deu a largada ao fascismo italiano. Nunca é demais lembrar que as centrais sindicais da construção civil nos Estados Unidos fizeram ostensivamente lobby a favor da invasão do Iraque. Por essas e por outras é que a eleição de um operário metalúrgico para a Presidência da República derruba de vez a teoria crítica brasileira, assim como a eleição anterior de um sociólogo desnudava a dimensão afinal afirmativa daquela mesma tradição. Como observou um jovem historiador, cum grano salis, um retirante presidente supera de uma vez por todas os “impasses do inorgânico” e arremata a obra-prima de Caio Prado Jr., virando com uma pá de cal sua última página: então era isso a Revolução Brasileira?
[1] A conversa aconteceu em fins de fevereiro de 2011 e tinha o objetivo de estruturar a pauta para uma entrevista que se transformou neste ensaio. Participaram dela Maria Tendlau e José Fernando Azevedo.
[2] Em http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,leia-texto-do-convite-e-trecho-da-entrevista-com-pauloarantes,
33186,0.htm
[3] Em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1308200714.htm
Paulo Eduardo Arantes é filósofo e importante pensador marxista brasileiro. Graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado de Troisième Cycle pela Universidade de Paris X -Nanterre. Foi diretor de pós-graduação e especialista em filosofia clássica alemã, filosofia francesa contemporânea e teoria crítica. É professor aposentado do Departamento de Filosofia da FFLCH-USP. Foi editor da revista Discurso, órgão oficial do Departamento de Filosofia da USP. Dirige a coleção Zero à Esquerda da Editora Vozes e a Coleção Estado de Sítio da Boitempo. É autor de uma respeitável obra que associa o rigor da filosofia hegeliana e marxista com análises sociológicas e antropológicas da realidade cultural do Brasil.
José Fernando Azevedo
O PROCESSO TEATRO (NOTAS PARA UM PROGRAMA DE TRABALHO)
publicado no livro Próximo Ato: Teatro de Grupo, do Itau Cultural
À memória de Reinaldo Maia
“Teatro de grupo”: a crítica por um lado e os grupos por outro não poupam esforços para elaborar uma definição. Objeto para a crítica, tentativa autorreflexiva para os grupos, o fato é que não se demora muito a cair numa metafísica da grupalidade. Para o argumento que segue, a expressão “teatro de grupo” designará, antes de mais nada, a política dos grupos. Daí a questão que atravessa este texto: Qual é a política dos grupos?
1. Formas de produção e condição prática
A reiterada discussão sobre formas de produção – que alguns insistem em nomear “modos de produção” – tem nos feito deparar com impasses reais. Isso porque não se define o grupo como forma de produção pela imposição de um modelo abstrato, mas antes verificando a diversidade das práticas.
Quanto aos grupos, nós nos organizamos mais ou menos de maneira cooperativada; de um jeito ou de outro, tentamos horizontalizar nosso processo interno de decisão; visamos mais ou menos a dinâmicas partilhadas de criação e relação com o público; estamos mais ou menos investidos de um espírito combativo na afirmação do “interesse público” do que fazemos e, portanto, engajados na luta por formas públicas de financiamento da produção. Todos esses aspectos, entretanto, refletem princípios norteadores de práticas cuja assimilação tende a dimensionamentos distintos a partir de um confronto com condições tão diversas quanto pode ser a diversidade produzida numa metrópole ou na extensão de um país como o Brasil.
Nesse sentido, São Paulo é uma plataforma de observação privilegiada, não como modelo ou horizonte para a produção teatral brasileira, mas sobretudo porque evidencia um “limite” a ser estudado e superado já na origem de qualquer nova tentativa de ação. O movimento Arte contra a Barbárie mostrou aos grupos a necessidade de um programa político que o Redemoinho tentou estabelecer em âmbito nacional. As conquistas que tivemos em São Paulo, que têm na Lei de Fomento o seu maior alcance, são resultado de uma luta que não se reduz ao confronto com o poder, prática evidenciada na gestão vigente, mas que também se dá internamente. O teor dessa luta não é paulista: abarca a experiência dos grupos no Brasil. Ainda se referindo à plataforma paulistana, o movimento Arte contra a Barbárie foi o sinal de alerta de uma nova percepção do problema da produção cultural, a partir do imbricamento de economia e política, e com ele deu-se a tentativa de responder à altura ao desmanche sistemático (na verdade, uma reestruturação sistêmica) empreendido na década de 1990.
Com a aprovação da Lei de Fomento, em 2002, esse ciclo ganha sua fisionomia própria, mas os limites práticos da lei – trinta projetos aprovados anualmente –, num panorama em que os grupos se multiplicaram, transformaram-na em um campo de “disputa” entre eles, pois “projetos” precisam ser aprovados para que o trabalho continue. Desse modo, podemos afirmar que não soubemos politizar os referidos limites.
Atuamos em grupo, buscamos definir o que seja isso, mas, neste momento, a política dos grupos precisa exceder os próprios grupos. O grupo não é uma invenção dos anos 1990, embora muitos acreditem que seja. Por isso mesmo, o que muitas vezes escapa é o fato de
que os grupos surgidos então respondiam a uma conjuntura muito específica. Nossa maior dificuldade é politizar esse “campo” e perguntar: Por que, a partir dos anos 1990, o coletivo se tornou uma alternativa efetiva para a produção teatral? Essa alternativa é efetivamente política ou imediatamente econômica?
Sabemos que a forma de produção a partir do modelo cooperativista, mais ou menos coletivizada, não é a única. Assim, antes de cairmos na abstração de um debate vago sobre formas de produção – uma discussão certamente necessária –, precisamos entender que
somos trabalhadores precarizados na forma de uma intermitência sem regra, sendo essa nossa efetiva condição prática. Iná Camargo Costa há anos vem nos chamando a atenção para essa realidade, mas não conseguimos ainda nos ver assim para, consequentemente,
estabelecer um outro campo de lutas. Há uma espécie de glamorização involuntária do precário. Logo se vê que a verdade de nossa situação é que ela não é específica. Envolve, antes, qualquer artista ou técnico que se ponha a mexer com arte neste país, incluindo
aqueles que atuam na chamada indústria do entretenimento. A experiência dos grupos poderia politizar essa situação, ampliar o seu alcance, mobilizar de outra maneira a imaginação política dos envolvidos.
No que diz respeito aos programas de financiamento, reconhecemos a necessidade de alternativas, mas as condições internas de luta nos levam sempre aos mesmos modelos. Não soubemos inventar alternativas. Negociamos muito. Tal luta tem se inscrito numa outra, a luta pelo fundo público. Porém (posso estar errado), trata-se de uma luta já perdida. Um olhar menos desavisado atentará para o fato de que, no Brasil, dos anos 1990 para cá, um sistema único de cultura vem se impondo, constituído segundo uma “partilha dirigida” do fundo público, na forma da renúncia fiscal por serviços sociais de comércio e indústria, gerências de grandes empresas estatais ou o dito capital misto, proveniente de institutos culturais vinculados a instituições financeiras. Com isso, vemos firmar-se um modelo de financiamento e normas de produção e circulação do bem cultural cujo contraponto do Estado não chega a fazer figura, que é quando muito um arremedo performativo à custa de uma disputa de programa diante da gestão do momento.
Essa partilha dirigida fica mais evidenciada quando nos voltamos para a Região Norte, onde o governo já garante isenção fiscal às empresas instaladas na Amazônia. Em uma região em que as condições de vida se defrontam não apenas com a precariedade econômica, mas com os desafios naturais mais extremos, o aparelho cultural, e o teatral em particular, está reduzido à escassez. Ali, a questão da produção confunde-se com a circulação, e a descoberta do “custo amazônico” [1] implica a elaboração de outro modelo, para além de uma redistribuição de verbas. Mas o argumento evidente e real de que não se tem o mínimo é mais forte, e a perspectiva empenhada da luta nos devolve ao plano da partilha do bolo mirrado dos programas existentes.
Os vínculos que estabelecemos com determinados campos da sociedade certamente definem os modelos que inventamos. O fato é que há muito tempo não nos perguntamos pelas alianças que somos capazes de fazer. Neste momento, a questão da continuidade do trabalho dos grupos e, portanto, de seu financiamento, é também uma pergunta pelas alianças que os grupos querem e são capazes de fazer. Isso definirá em muito a política, ou, se quisermos, o destino do teatro de grupo.
2. O campo teatral e a forma
Os defensores do “específico teatral” não explicam por que e onde o teatro permanece uma “arte pública”. Na prática dos grupos, a crítica universitária vem se esforçando por reconhecer uma espécie de teatralidade “descentrada”, em que o político, não se “reduzindo” à enunciação imediata, retornaria à cena por suas bordas, na problematização quase sempre simultânea de procedimentos e formas – objetivas e artísticas. Com isso, sugere-se que a fatura estética ganharia nova complexidade. Ora, identificar o “teor político” de uma peça em que se pretende “suspender” ou “deslocar” a política é sem dúvida um trabalho árduo. Mas, nesse campo movediço, o passo para a ideologia é curto. Aliás, o segundo momento desse trabalho certamente deveria consistir em reconhecer o papel das ideias no processo de criação. Se para boa parte dos trabalhos esse papel pode ser nenhum, é fato que programaticamente todo um ideário teórico tem composto o campo das justificativas artísticas e da conformação de projetos. Noções como “teatralidade”, “pós-dramático”, “performatividade” ou ainda “performatividade narrativa” circulam na cena e na teoria. Se por um lado designam aspectos definitivamente verificáveis no funcionamento da cena, por outro tais descrições analíticas dos procedimentos raramente alcançam o enfrentamento mais efetivo da questão formal, mesmo no que concerne à provisoriedade e transitividade dos processos (aspectos que deverão estar inscritos numa definição consequente de forma). Nesse jogo de forças, no
plano das ideias, a atualização constante tornou-se o fim, e a teoria está aí, a serviço das mais diversas construções.
Atualização, aliás, sempre foi uma exigência entre nós. A ideologia paulista do “teatro brasileiro moderno” não foi outra coisa senão a justificação programática de um impulso de modernização que apenas se confirmava como teatro brasileiro a partir de um teatro mundial. Nesse sentido, no circuito mundial de formas e procedimentos, esse teatro não apenas já nasce moderno, mas tardiamente moderno, ou seja, nele os procedimentos modernos de encenação chegam deslocados, apartados da experiência que os origina e, no entanto, confrontam-se com uma sociabilidade que os relativiza e redimensiona. As tentativas de tirar consequências desse desajuste entre fusos históricos não são muitas, e algumas interrompidas, como no caso de Café, de Mário de Andrade, cuja confrontação direta com seu conto “Primeiro de Maio” revelaria a complexidade e o alcance dessa experiência única.
Tomemos, entretanto, a tão reiterada teatralidade. Se podemos compreender teatralidade como uma operação que ponha em movimento e confronto instâncias simbólicas e relacionais, operação da qual resultaria uma certa construção do olhar, portanto um duplo trabalho – mostrar e ver –, o que temos ainda é uma operação no plano dos procedimentos e da produção de sentido. Essa teatralidade configura um momento do teatro, mas não define para o teatro o que seja forma.
Sem dúvida, há teatro quando reconhecemos na cena a capacidade de ativar formas de sociabilidade, fazendo-nos ver ao mesmo tempo o funcionamento de outras. No teatro, a política dos grupos força a compreensão dos níveis e planos de sociabilidade imbricados.
Vejamos: o grupo em processo de criação, tendo de ativar a polifonia que o conforma (vozes, funções, relações de produção, procedimentos, técnicas etc.); inscrito num processo social que o excede (a cidade que sedia seu trabalho, disputa de espaços, local onde estabelecerá as relações com um determinado público); confrontando-se com processos de enquadramento (as lutas por manutenção ou por financiamento, quase sempre confrontos com a lei etc.); tentando formalizar processos objetivos e subjetivos (muitas vezes inscritos na própria cidade). O trânsito complexo de um plano a outro conforma o que chamo “campo teatral”. É o modo como o trabalho teatral se inscreve e resulta nesse campo que produzirá uma noção de forma.
A crítica efetiva da experiência do teatro de grupo nos devolve a algo como a crítica da economia política, cujos nexos não se revelam sem uma análise formal – para além da descrição de procedimentos – das peças que deveriam trazer as marcas do processo.
3. Para uma noção de forma
O campo teatral é sempre um campo de disputas. Isso quer dizer que a formalização no teatro é sempre o momento em que uma luta ganha sua cifra provisória, permitindo olhar para o processo e nele vislumbrar impasses, limites, avanços, recuos e novas margens. Esse é sem dúvida o cerne da política dos grupos. Inscrevendo-se num campo ao mesmo tempo real e imaginário de lutas, o grupo tem de se ver diante de processos nem sempre formalizados. O campo vai da negociação à aliança, muitas vezes sem uma mediação evidente. Lançado no imediatismo violento dos confrontos, o trabalho do grupo consiste em internalizá-lo sem se suprimir. Se é a cidade esse campo privilegiado, é dela que o grupo arranca sua matéria, mas é também nela que ele se inscreve. Se não se quer a cena
reduzida a um parque temático, a diferença se produz no esforço de autocompreensão, o que inclui o dado novo: ali, onde parte da cidade concede seu depoimento para uma elaboração, essa mesma parte deveria se fazer espectadora atenta e crítica da elaboração. A capacidade de radicalizar tal nexo é um dos impasses atuais do teatro de grupo.
Trata-se de dar conta de processos. O processo de criação teatral deve assimilar os movimentos de um outro processo, e muitas vezes nele se inscreve. Esse outro processo tem forma própria, ainda que não evidente ou difusa. Ocorre, no entanto, que o grupo não está totalmente separado dela. Nesse caso, formalizar é sempre dar também o seu depoimento.
Os procedimentos de que o grupo dispõe, confrontados com essa matéria, não servem mais para enquadrá-la, mas para lhe cavar novas percepções, novos entendimentos, outras relações, outros momentos. Essa formulação não é uma solução de compromisso. Ao contrário, ela não resolve as tensões do processo; antes importa compreender que aquele processo de formalização é sobretudo o trabalho de explicitação das contradições inscritas no campo teatral, inescapáveis, e que não se resolvem nem se superam no plano performativo da negociação.
Com efeito, a qualidade estética de um trabalho é verificada a partir de outro confronto, ou seja, do choque premeditado (embora não controlado) entre uma proposição (projeto ou momento de um projeto artístico) e os meios efetivos para sua consecução; resultará, na fatura poética, sua dimensão estética propriamente dita, e nesta se verificará o sentido e a validade da proposição anterior. Há qualidade estética quando não há dissimulação do confronto e quando essa não dissimulação não se reduz ao enunciado do confronto, mas, antes, à elaboração poética de seus momentos.
O destino dos grupos confunde-se assim com o destino da cidade. Ainda da plataforma paulistana, a disputa pelo território não apenas enquadra a experiência dos coletivos como define a fisionomia de sua cena, que por sua vez não sabe recalcar a adesão a essa ou àquela forma de ação urbana. É no depoimento da forma que se constata o limite entre o “sucesso” (por assimilação e dissimulação) e a eficácia (intervenção) de um trabalho.
4. Otimismo x alegorização
O caminho do teatro de grupo vai na contramão da história recente do país. A ideologia da inclusão no mercado, característica da política implementada nos últimos anos, produziu em dimensão nunca antes imaginada uma “televisação” sem precedentes da sociedade brasileira. A imagem de uma suposta “nova classe média”, produzida em estúdios de publicidade, corresponde a uma “mutação cultural” de efeito avassalador, que reduz o campo da cultura através da massificação. O otimismo grassa e define a fisionomia sorridente do novo tempo, do qual todos estão empenhados em fazer parte, e a mediação é o consumo, num processo de integração a crédito. Se, desde os anos 1990, o teatro de grupo veio fazendo sua tentativa de figuração crítica do desmanche de que era resultado, como esforço de autocompreensão, em grande medida esse movimento não se deu sem uma história da vítima posta em jogo. O depoimento foi o procedimento – e em muitos casos a forma – mais recorrente dessa cena. No momento atual, a vítima converteu-se em consumidor, e a ideologia de uma “nova classe média” fez converter o “trabalhador” em “cidadão a crédito”. Não tendo mais a vítima [2], ao teatro cabe não apenas entender o sentido dessa mutação administrada como também produzir as imagens que denunciem o seu funcionamento. E isso não acontecerá sem retornarmos à discussão sobre nosso campo de alianças desejadas. Não se trata, no entanto, de reduzir esse campo a uma disputa de nicho, o famoso “público”. Certamente a mudança de assuntos transforma as relações de recepção. Entretanto, sem a refuncionalização dessas relações, pouco avançaremos.
Na cena do teatro de grupo, o trabalho de formalização, inscrito no movimento próprio de sua matéria, consiste em fazer irromper momentos de separação: fazer emergir do emaranhado do processo imagens que sedimentam, ainda que provisoriamente, nexos
dessa experiência. A esse trabalho, que estou chamando “alegorização” (não a ideia de uma alegoria como redução abstrata da experiência), aportemos a intenção e o esforço de configuração de uma vivência paralisante, flagrando seu funcionamento ali onde ele parece travar ou cair em repetição. Esse momento é precisamente aquele que, tornado imagem ou gesto, nos permite vislumbrar a margem, o limite e o que nele habita. Como no teatro épico de Brecht, interpretado por Benjamin:
Quando o fluxo real da vida é represado, imobilizando-se, essa interrupção é vivida
como se fosse um refluxo: o assombro é esse refluxo. O objeto mais autêntico desse
assombro é a dialética em estado de repouso. O assombro é o rochedo do qual
contemplamos a torrente das coisas […] Mas se a torrente das coisas se quebra no
rochedo do assombro, não existe nenhuma diferença entre uma vida humana e
uma palavra [3].
5. Duas aproximações – notas para análises de caso
Em Quem Não Sabe Mais Quem É, o que É e Onde Está Precisa se Mexer, a Companhia São Jorge de Variedades quer formalizar sua experiência do campo teatral e, com isso, ver no olho o seu limite. Todo esforço é o de não paralisação diante da força medúsica do processo. A pergunta sobre a capacidade de ação e de alianças está cifrada na frase-coro: “Quem está comigo me acompanha”, enunciada por uma figura retrô vinda do futuro. Andamos pelas ruas da Barra Funda, esse bairro de origem operária, de clandestinos (noção que perdeu força de evidência, quando vira série televisiva, assim como Araguaia se torna telenovela sobre uma paisagem). Os espectadores, munidos de chaves que lhes permitirão adentrar o “espaço teatral”, participam da intervenção encenada, compreendendo em jogo os limites do que seja “participação”. O espetáculo então torna-se o inventário desesperado das falas roubadas, dos gestos esvaziados (por excesso de macaqueamento), e o espaço teatral configura-se como uma espécie de cativeiro voluntário, em que artistas e espectadores expiam as dores da revolução adiada. Radicalizado, talvez o cativeiro se convertesse em “célula”, o que, no entanto, converteria a cena numa “peça didática”, no sentido da Lehrstück brechtiana. Mas este é de fato o ponto: a Lehrstück era um momento de radicalização, em que, diante dos impasses do engajamento e seus confrontos, Brecht se punha a experimentar e a se interrogar sobre a capacidade efetiva de aliança por parte do teatro. Sua resposta aos impasses do “teatro político” de Piscator fazia do espectador um coatuante; era a fratura produzida pela cena no interior dos aparelhos sociais nos quais pretendia se inscrever. Depoimento radical sobre o estágio do teatro de grupo – ou da política dos grupos, em São Paulo e em certa medida no país –, o espetáculo nos devolve para dentro de um aparelho teatral que os grupos estão ajudando a definir. A condição para que tal definição não se reduza ao mero empenho modernizador de configuração de um aparelho teatral tradicional, ou seja, burguês, é a de que o grupo e o teatro de grupo sejam capazes de elaborar esses impasses, desmanchando-os em efetivas alianças. Não será por acaso o movimento da São Jorge em seu trabalho seguinte (em processo de criação), de volta
à rua, na mesma Barra Funda de origem operária – mas com fisionomia hoje diversa –, no trabalho de configuração de coros, a partir dos encontros que tenta produzir.
No caso de Quem Não Sabe…, o curioso é que o grupo realiza aquela operação tomando como material textos de Heiner Müller. Ao fazê-lo, no entanto, impõe-se a tarefa de ver de perto, para além da floresta maneirista dos textos müllerianos, sempre rapinados pelas justificativas pós-dramáticas do momento, aquilo que o autor explicita em 1990, num debate sobre os esvaziamentos pós-modernos (e que talvez seja um eficaz comentário à montagem, à maneira de um antídoto a qualquer autoilusão, precisamente ali, onde ela avança):
O talento apenas é um privilégio; privilégios devem ser pagos: a contribuição
pessoal para a autoexpropriação pertence aos critérios do talento. Com o mercado
livre desaparece a ilusão da autonomia da arte, um pressuposto do modernismo.
A economia administrada não exclui a arte. Ela a recupera socialmente. Antes que
a arte deixe de ser algo no sentido de uma limitada atividade intelectual, como
Marx a descreveu, ela não poderá ser liberada de suas funções. Nesse intervalo, ela
continua a ser praticada, também no país de onde venho, por especialistas mais
ou menos qualificados para isso. O nível cultural não poderá ser elevado se não for
alargado. Na cortina de fumaça dos mídia (igualmente em meu país), que impede
as massas de perceberem sua real situação, apagando sua memória e tornando
estéril sua imaginação, o alargamento se processa à custa do nível. No domínio da
necessidade, realismo e culinário/“popularidade” são duas esferas inconciliáveis. A
fratura atravessa o autor. Na perspectiva das condições sob as quais trabalho, estou
em desacordo com a noção de pós-modernismo. Meu papel não é o de Polônio,
o primeiro comparatista da literatura dramática, pelo menos em seu diálogo com
Hamlet sobre o formato de certa nuvem que, na miséria da comparação, demonstra
a efetiva miséria das estruturas do poder. Tampouco, infelizmente, o daquele cigano
de uma peça de um ato de Lorca, que leva um oficial da Guerra Civil a um ataque
de nervos, dando respostas sem sentido, surrealistas, a perguntas policiais […] Não
posso excluir a política da questão do pós-modernismo. A periodização é a política
do colonialismo, enquanto a História tenha como pressuposto a dominação das
elites através da moeda e do poder e não se torne História universal, que tem como
precondição uma efetiva igualdade de oportunidades. Aquilo que precedeu o
modernismo, que traz a marca da Europa, talvez reapareça em outras culturas de
maneira distinta, enriquecido desta vez pelas aquisições técnicas da modernidade:
um realismo social que ajude a reduzir o abismo entre arte e realidade, uma arte sem
esforço, dirigida à humanidade intimamente – o sonho de Leverkühn, antes que o
demônio venha arrebatá-lo […] A literatura latino-americana poderia sustentar essa
esperança. A esperança nada garante, contudo. O duelo entre indústria e futuro
não será travado com canções que embalem o coração. Sua melodia é o grito de
Mársias, que arrebenta as cordas da lira de seu divino carrasco [4].
*
Em Marcha para Zenturo, o Grupo Espanca!, de Minas Gerais, e o Grupo XIX, de São Paulo, realizam a sua “arqueologia do presente”, elaborando-a numa imagem de um futuro que já nos inclui. Em cena, estão os preparativos para uma festa de confraternização entre amigos – e nós, espectadores, já estamos no jogo a partir de quando a personagem Noema aguarda os convidados. A chegada dos amigos vai, pouco a pouco, fazendo-nos imergir numa estrutura de deslocamentos, isolando as vozes sob o aparente jogo da incomunicabilidade. Um delay, que faz com que as falas e os gestos se reportem com o atraso das intenções, faz com que a imaginação passe a habitar os hiatos que se produzem, cavando as significações recalcadas. Os que chegam falam de uma marcha que veem por uma janela cujo vão nos atravessa – plateia –, como o olhar do ator atravessando uma quarta parede. Mas já entramos e ficamos em cena com Noema; e não conseguimos romper a defasagem, que é também paralisia e que parece determinar nossa experiência de tempo. Os amigos esperam a chegada de um último, que, doente, não se inclui nessa experiência senão em seus hiatos: ele percebe a necessidade de fazer irromper do hiato algo que a marcha lá fora parece anunciar, mas não é capaz de falar e agir sem que sua fala e seus gestos sejam assimilados àquele jogo de anulação. Sua gesticulação é “romântica” e soa ingênua também a nós, que já compreendemos precisamente por que fomos abrangidos/apreendidos pelo jogo. A certa altura, chega um grupo de teatro – animadores de festa –, como quem vem de um passado cavado de um daqueles hiatos do jogo, e encena um resumo das Três Irmãs de Tchékhov. Se na peça do russo vemos a renúncia ao presente, vivido como um entretempo, em Zenturo o que temos é uma total imersão nesse presente – o passado é uma imagem sem conteúdo, e o futuro uma reposição das imagens do presente. Fazer irromper a experiência do hiato, interrompendo o fluxo das vozes e dos gestos vazios, é aquilo que seria o trabalho do teatro, se o teatro não se reduzisse à mera animação da festa. No final, a saída romântica do amigo doente, o suicídio, não atingirá a cena antes que ela acabe. Até lá, a autoilusão gesticula com seu otimismo aderente. Noema tchekhovianamente arremata: “Eu gostaria de propor um brinde! Que bom que estamos todos aqui, juntos, neste instante. Um brinde à vida! À nossa capacidade de perceber que alguma coisa está acontecendo”.
[1] Consulte o texto de Paulo Ricardo Nascimento, neste livro.
[2] Num debate promovido na última edição do Próximo Ato, com Hans-Thies Lehmann, Paulo Arantes fala desse teatro de grupo e também daquilo que Lehmann chamou “teatro pós-dramático”, como sendo a cena que elaborou, por excesso de adesão, o ponto de vista da vítima social. De um lado, a inscrição dos grupos na vida da exceção; de outro, aquele teatro de minorias.
[3] Walter Benjamin, “O que é o teatro épico”. In: Obras Escolhidas. Tradução de Paulo Sérgio Rouanet. São Paulo: Brasiliense, p. 89-90.
[4] Tradução de José Galisi em sua dissertação de mestrado: “Na Constelação do Zênite”. Campinas: Unicamp, 1995.
José Fernando Azevedo é diretor e dramaturgo do Teatro de Narradores, de São Paulo; professor da Escola de Arte Dramática da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (EAD-ECA/USP); doutor em filosofia pela USP.
Entre 08 e 11 de dezembro de 2011, o espanca! realizou o “Encontro Tátil – um Mergulho na Obra de Daniel Veronese”. Pesquisadores e artistas convidados participaram do seminário aberto ao público, que também contou com a presença do artista argentino, diretor de O Líquido Tátil. A programação, mediada pela professora e atriz Bya Braga, incluiu o debate PRÁTICAS DO REALISMO CONTEMPORÂNEO [diálogos entre espanca!, grupo Quatroloscinco, Anderson Aníbal (Cia Clara de Teatro), Eduardo Moreira (Grupo Galpão) e Juarez Guimarães Dias (Cia. Pierrot Lunar)]; abertura do processo de O LÍQUIDO TÁTIL; além de leituras de outros textos de Veronese: A TERRÍVEL OPRESSÃO DOS GESTOS MAGNÂNIMOS, feita pelo grupo Quatroloscinco; A NOITE DEVORA SEUS FILHOS (criação de Alexandre de Sena, Gláucia Vandeveld, Gustavo Bones, Jésus Lataliza, Mariana Maioline e Renata Cabral); e LUÍSA (por Bya Braga). O Encontro Tátil foi realizado em parceria com a Agentz Produções, no projeto de ocupação do Galpão 3 da Funarte/MG.
Dente de Leão estreou dia 10 de setembro de 2014, no teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, MG.
2016
Agosto
– Teatro Municipal de Itajaí, SC
– Festival Palco Giratório – Teatro Pedro Ivo. Florianópolis, SC
Julho
– curta temporada no Teatro José Maria Santos. Curitiba, PR
Fevereiro
– temporada na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. CCBB-BH, MG
2015
Outubro
– Teatro SESI – Circuito Cultural de Uberaba, MG
Agosto
– Teatro Paulo Roberto Lisboa – Festival de Teatro de Presidente Prudente, SP
Maio
– Mostra Cine Brasil Teatro – Grande Teatro do Cine Theatro Brasil Vallourec. Belo Horizonte, MG.
– Festival Palco Giratório – teatro Renascença. Porto Alegre, RS.
Abril
– temporada no teatro do SESC Ipiranga – Mostra Espanca! 10 anos. São Paulo, SP.
Janeiro
– curta temporada no teatro Oi Futuro Klauss Vianna – programação do Verão Arte Contemporânea. Belo Horizonte, MG.
2014
Setembro
– temporada de estreia no CCBB-BH – projeto Espanca! 10 anos. Belo Horizonte, MG.
PRÊMIOS:
– indicado ao 2º Prêmio Copasa Sinparc de Arte Cênicas na categoria Melhor Ator Coadjuvante (Gustavo Bones).
Um fluxo sonoro: uma família narra, sob diferentes pontos de vista, a vida na favela onde mora.
Texto: Márcio Abreu
Direção: Marcelo Castro
Elenco: Alexandre de Sena (Homem), Allyson Amaral (Criança), Gláucia Vandeveld (Vó), Gustavo Bones (Criança), Karina Collaço (Criança), Leandro Belilo (Criança) e Michelle Sá (Mulher)
Direção: Rita Clemente
Dramaturgia: Grace Passô
Atores: Assis Benevenuto (Joaquim), Grace Passô (Mãe), Gustavo Bones (Pequeno), Marcelo Castro (Samuel) e Mariana Maioline (Graziele)
Atores da Primeira Formação: Paulo Azevedo (Pequeno) e Samira Ávila (Graziele)
Consultoria Dramatúrgica: Adélia Nicolete
Assistente de Direção: Mariana Maioline
Cenografia: Bruna Christófaro
Iluminação: Cristiano Araújo e Edimar Pinto
Figurino: Paolo Mandatti
Trilha Sonora: Daniel Mendonça
Direção Vocal: Babaya
Preparação Vocal: Mariana Brant e Camila Jorge
Preparação Corporal: Dudude Herrmann e Izabel Stewart
Coreografia/Professor de Sapateado: Eurico Justino
Técnico e Operador de Luz: Edimar Pinto
Cenotécnico: Joaquim Silva
Costureiras: Mércia Louzeiro e Ireni Barcelos
Produção: Aline Vila Real
Realização: Grupo Espanca!
Classificação: 12 anos
Duração: 60 minutos
Espetáculo realizado com o Prêmio Estímulo às Artes – Auxílio Montagem – da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes – 2005
Direção e Dramaturgia: Grace Passô
Atores: Grace Passô (Dona de Casa), Gustavo Bones (Lixeiro), Marcelo Castro (Homem), Renata Cabral (Mulher) e Sérgio Penna (Funcionário)
Atores da Primeira Formação: Paulo Azevedo (Funcionário) e Samira Ávila (Mulher)
Figurino: Marco Paulo Rolla
Iluminação: Telma Fernandes
Trilha Sonora: Daniel Mendonça
Vocal: Le Thi Bich Huong
Contribuição Artística: Rita Clemente
Técnico e Operador de Luz: Edimar Pinto
Assessoria Vocal: Camila Jorge e Mariana Brant
Instrutora de Tai Chi: Aline Midori
Costureiros: Mércia Louzeiro e José Martins
Cenotécnicos: Helvécio Isabel e Neném
Produção: Aline Vila Real
Realização: espanca!
Classificação: 12 anos
Duração: 60 minutos
Direção: Grace Passô
Dramaturgia: Grace Passô (em processo colaborativo com o grupo)
Atores: Alexandre de Sena (Doutor José), Gláucia Vandeveld (Tradutora), Gustavo Bones (Tusgavo Tapbista), Izabel Stewart (Payá), Marcelo Castro (Trumak), Mariana Maioline (Reluma Divarg), Marise Dinis (Dançarina), Sérgio Penna (Dançarino)
Assessoria Dramatúrgica: Adélia Nicolete
Assistência de Direção: Fernanda Vidigal
Direção de Arte: Renato Bolelli
Assistente de Cenografia: Viviane Kiritani
Assistente de Figurinos: Gilda Quintão
Iluminação: Nadja Naira
Arranjos Sonoros: Alexandre de Sena
Música da Tribo: Daniel Mendonça
Vídeo: Roberto Andrés e Leandro Araújo – superfície.org
Coreografia: Sérgio Penna
Preparação Vocal: Camila Jorge e Mariana Brant
Técnico e Operador de Luz: Edimar Pinto
Cenotécnico: Joaquim Pereira
Costureira: Mércia Louzeiro
Produção: Aline Vila Real
Realização: Grupo Espanca!
Classificação: 12 anos
Duração: 60 minutos
espetáculo realizado através do II Projeto de Co-Produção do Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil.
Concepção: Grupo XIX de Teatro e espanca!
Direção: Luiz Fernando Marques
Dramaturgia: Grace Passô
Elenco: Grace Passô (Nina), Gustavo Bones (Gordo), Janaina Leite (Noema), Juliana Sanches (Lóri), Marcelo Castro (Patalá), Paulo Celestino (Bóris), Rodolfo Amorim (Marco) e Ronaldo Serruya (Konstantin)
Atriz Stand By: Mariza Junqueira (Noema)
Iluminação: Guilherme Bonfanti
Projeto Áudio-visual: Pablo Lobato
Treinamento de View Points: Miriam Rinaldi
Oficina de Interpretação: Ana Lúcia Torre
Cenário: Luiz Fernando Marques, Marcelo Castro, Paulo Celestino e Rodolfo Amorim
Figurino: Gustavo Bones, Janaina Leite, Juliana Sanches e Ronaldo Serruya
Trilha Sonora: Luiz Fernando Marques
Técnico e Operador de Luz: Edimar Pinto
Produção: Aline Vila Real (espanca!) e Graziela Mantovani (grupo XIX)
Duração: 90 min
Classificação: 14 anos
espetáculo realizado com recursos do projeto “Co-Habitação”, do Grupo XIX de Teatro – patrocinado pela PETROBRAS através do Programa PETROBRAS Cultural.
Sem chão sob os pés, de Alvaro Machado
Fantasmagorias da realidade, de Dinah Cesar
Da seriedade à irreverência da arte, de Marco Vasques e Rubens da Cunha
Leve Irina Nikoláievna embora daqui…, de Lucas Mayor
Sobre furos, vazamentos e substâncias viscosas, de Victor Guimarães
Alvaro Machado:
SEM CHÃO SOB OS PÉS
publicado na revista Carta Capital em 14/04/2013
Mais a propósito a cada dia, o ditado “de perto ninguém é normal” tem ilustração à altura no novo espetáculo do Grupo Espanca, de Belo Horizonte. Não importa se a frase é original de Caetano Veloso, ou dele a partir de Tostoi (com relação às famílias) ou de Nelson Rodrigues (a comentar honestidade) ou amálgama de três pensamentos. Em O Líquido Tátil, uma visita familiar torna-se passagem para outro nível de realidade, a deslocar o chão sob os pés do espectador. Alteração em grande medida provocada pelo tom que a atriz e diretora Grace Passô, musa de várias companhias vanguardistas, imprime aos diálogos do argentino Daniel Veronese, no que é seguida por Gustavo Bones e Marcelo Castro.
O tapete da normalidade arrancado fundamenta-se nos absurdos sutilmente plantados por Tchekhov em comédias como O Urso e Os Males do Tabaco, bem como na sensibilidade alternativa proposta pelo cronópio maior, Júlio Cortázar. Com 40 minutos o esquete engendra prova de humor a honrar a inteligência das melhores plateias.
Dinah Cesar:
FANTASMAGORIAS DA REALIDADE
publicado na revista eletrônica Questão de Crítica em 30/01/2013
A cena é simples, na verdade, tudo dá a aparência de um cenário artificial. Uma sala de estar com duas paredes, uma ao fundo e outra na lateral direita. O cenário não tem um acabamento tradicional realista, é feito de compensado pintado, sem pretensões ilusionistas, propositadamente sem nenhum tratamento característico de uma cenografia figurativa. Na parede lateral vê-se um pequeno corredor que sugere um cômodo contíguo. O lado esquerdo é vazado para o escuro do fundo do espaço. Um carpete verde e um sofá marrom de dois lugares. A primeira impressão deste conjunto, juntamente com os atores no espaço, é a de que a narrativa humana se estrutura por enredos incompletos. Tudo sugere um desgaste pelo tempo. O que se observa é um desejo de realismo (de um regime estético mimético) insuflado pelo regime da realidade que se mostra como algo que precisa ser construído. A desejada imaterialidade humana de suas histórias está instalada numa região virtual que não está ali visível para o público, que se insinua pela qualidade de um cenário meio inacabado.
A cenografia se alia com a fábula de dois irmãos e a mulher de um deles que discutem sobre arte em uma espécie de rivalidade quase superficial, na medida em que tentam convencer um ao outro sobre as virtudes e diferenças entre o cinema e o teatro. A materialidade também contém esta porção de convencimento e superficialidade. Tudo pode ser uma questão de discurso bem articulado. A mulher tem uma fixação por cachorros e, ao começar a falar, se detém em uma análise surreal do vocábulo cão. O texto de Daniel Veronese fala de amor, de relacionamentos afetivos, das possibilidades do trabalho de arte, da triangulação dos desejos de personagens que não estão completos. Eles se dirigem ao público todo o tempo na espera de ganhar identificação com suas questões. A mulher está insatisfeita com o casamento, seu marido é um homem frágil e a chegada de seu irmão é uma excelente oportunidade para os dois primeiros tentarem defender suas posições.
A inspiração de Veronese são os artistas russos: o dramaturgo Anton Tchekhov, o cineasta Andrei Tarkovski e o teatro de cabaré com seus prestidigitadores, sua junção de música, declamação, atuação e circo em um mesmo espetáculo. Esta mistura aparece no discurso de O líquido tátil, na composição dos personagens que são como subjetividades em fragmentos, nos detalhes pregnantes dos figurinos como, por exemplo, a estampa animal da mulher, o cabelo e os óculos do irmão e o modelo-funcionário-público-pobre do marido. O resultado parece não querer apagar os elementos, mas insistir no fato de que a vida e a arte são territórios híbridos. Tudo isto com graça e humor que remetem sempre para tensões sensuais nos corpos dos atores.A encenação, como uma espécie de interstício das artes, tensiona nela mesma os procedimentos artísticos. Uma das qualidades que aparecem é a revelação sutil da ideia de dispositivo no cinema sugerido para o teatro. Como se sabe, diante da imagem cinematográfica, ocorre a conhecida “impressão de realidade”, e isto se dá porque ela reproduz os códigos que definem a “objetividade visual”, segundo a cultura dominante em nossa sociedade. A realidade fotográfica é “objetiva”, e esta foi sua grande revolução, justamente porque ela é resultado de um aparelho construído que confirma a porção de ideologia que forma nossa “objetividade visual”. No cinema, esta objetividade acontece pela junção entre o aparelho projetor de imagens, a sala escura e os espectadores, o que conhecemos como dispositivo.
Na cena de Veronese, o aparecimento de uma espécie de dispositivo vai sendo construído por meio de diferentes elementos que são percebidos em meio a um regime que não é absolutamente evidente. O primeiro elemento é o cenário ressaltado como uma artificialidade, tal como o aspecto que as máquinas têm para nós. Não que o cenário seja deliberadamente uma máquina, mas possibilita uma sensação que surge no confronto com um objeto que se origina neste meio de produção. Aliada a esta sensação, a personagem (que é uma atriz chamada Nina Hagëken) narra um momento vivido por ela em um show num cabaré russo. O episódio tem as características de uma montagem semelhante a dos sonhos. Então, a sensação da máquina, do meio de produção, se confunde com uma espécie de ilusionismo, na medida em que o sonhador, por mais estranho que o sonho seja, é acometido por uma reação imersiva. No desdobramento da cena, um dos embates mais importantes dos personagens se dá entre as distinções e os valores do cinema e do teatro, o que vai construindo para o público um estado de percepção entre as potencialidades destas duas linguagens em, ora afirmarem objetivamente a realidade, ora afirmarem seu caráter de falso.
A discussão transita entre o moderno e o contemporâneo, entre as utopias e o estranhamento que vaza de nossos afetos na atualidade. Nesta mesma direção estão as pequenas mostragens da vida dos personagens como, por exemplo, suas relações com os cachorros ou o modo cômico e inusitado como a sexualidade aparece. O dispositivo ainda é revelado pelas alusões aos atores de cinema. Em meio aos elementos da fantasmagoria cinematográfica, o irmão começa narrar um fato do passado no melhor estilo teatral. Os dois regimes de construção de realidade se encontram: o do cinema e o do teatro.
Tudo isto acontece com a história de três personagens. Os atores do Espanca! se mostram como força de um presente que não anula sua posição de interstício. Personagens assombrados pelas imagens das máquinas que constroem os pensamentos. Grace Passô como Nina Hagëken é como a encarnação de um disforme encantador, uma espécie de beleza que está no início e no final dos nossos desejos. Marcelo Castro mostra a situação limite do homem que, semelhante ao animal acuado, ganha força de reação, e Gustavo Bones é como o líquido do título – realça a função tátil desse elemento por sua capacidade maleável de nos tocar.
A porção maquínica de nossas fantasias de realidade é discutida pela revelação dos clichês subjetivos que o cinema nos impõe, num teatro que os leva ao limite. O Espanca! parece saber disso e se coloca na situação de risco, no território deslizante entre os dois.
Marco Vasques e Rubens da Cunha:
O LÍQUIDO TÁTIL: DA SERIEDADE À IRREVERÊNCIA DA ARTE
publicado na revista Osíris em 22/10/2014
Daniel Veronese é um dos principais dramaturgos latino-americanos da atualidade. A obra vasta do argentino tem em O líquido tátil um de seus melhores exemplares. Na peça, três personagens: uma atriz, seu marido e o irmão do marido entram num jogo de acusações, imposições, artimanhas, que servem para Veronese discutir, não apenas aspectos psicológicos e sexuais de seus personagens, mas o próprio teatro, a condição da arte e do artista.
Assim, a técnica da metalinguagem, do teatro narrativo, da quebra da quarta parede, da aproximação com a linguagem cinematográfica, do humor que toca o escracho e o absurdo servem de caldo para que Veronese teça suas críticas e revele seu olhar severo sobre o atual estado da arte e o atual estado da vida. O líquido tátil é uma peça fortemente calcada no texto, algo que a montagem do Grupo Teatral Espanca defende caninamente para fazer referência a uma das alegorias da peça. Contudo, a direção soube dosar o equilíbrio entre gesto e palavra, ação e vocalidade.
A direção do espetáculo, que ficou por conta do próprio Daniel Veronese, recebeu o grupo em Buenos Aires para uma residência. O cenário é simples: uma sala, um sofá, muitas carteiras de cigarro e palavras, palavras, palavras ditas em todos os tons e sobretons. Transitando entre o silêncio e a histeria, os três atores se revelam adonados de seus personagens, sobretudo Grace Passó, uma dessas atrizes que domina o ofício com maestria do início ao fim da sua estada em cena. Ela é um acontecimento verbo-voco-visual. Um petardo de força e humor que arrebata a plateia e que se impõe diante do espectador como que a dizer: “neste território, neste encontro, eu imponho as condições”. Os atores Gustavo Bones e Marcelo Castro acompanham essa força, incorporando dois irmãos que também transitam entre a neurose, a psicopatia e o recalque. Veronese mantém algumas características do chamado “teatrão”: diálogos rápidos, o exagero gestual, marcação e partituras simples e naturais. No entanto, quando precisa sair desse eixo da naturalidade e cair no escracho, no caricato não tem pudor nenhum em fazê-lo. Sobretudo na parte final, em que se tenta resolver o conflito familiar e se chama o cinema (e toda a acidez que é colocar cinema no teatro) para a coda do espetáculo.
O Grupo Teatral Espanca tem dez anos de trajetória, uma base de linguagem muito sólida e não tem medo de inovar, de transgredir suas próprias certezas. Trata-se de um grupo capaz de assimilar uma peça como O líquido tátil, dirigida pelo próprio autor, e que acrescenta a ela sua força, seu jeito de fazer teatro, suas marcas poéticas. O trocadilho é inevitável: o Grupo Espanca nos espanca com uma peça atordoante; espanca as palavras até chegar à vocalidade, isto é, ao corpo e à presentificação da voz.
Para além das discussões do eixo familiar, a peça faz uma discussão sobre a linguagem artística e impõe perguntas de difíceis respostas, tais como: qual é a função da arte? O que é arte? Sedimentamos ou não conceitos sobre a linguagem que se repetem e se tornam nulos? O que nos toca no mundo da arte? Quem, afinal, define o que é e o que não é um objeto estético validado pela história cultural? O cinema, a televisão, o trabalho do ator shakespeareano, o expressionismo, as vanguardas todas, enfim, a trama simbólica vai acomodando estes personagens-artistas consumidos pelo insucesso e condenados a ruminar o desejo do estrelato. Estamos diante de três atores interpretando três artistas que, de algum modo, se perderam nas entranhas das próprias linguagens de seus ofícios. Estamos diante de uma metáfora ácida e bem-humorada do que poderíamos nominar de sistema de poder das artes e de sistema de poder sobre a vida.
Lucas Mayor:
LEVE IRINA NIKOLÁIEVNA EMBORA DAQUI. O CASO É QUE KONSTANTIN GAVRILOVITCH METEU UM TIRO NA CABEÇA…
publicado no blog mayorlucas em abril de 2013
Toda vez que penso em Tchekhov, lembro da frase agônica de Van Gogh nos braços do seu irmão Theo, “A tristeza durará para sempre”. Maurice Pialat faz uso da mesma sentença naquele que viria a ser seu filme-testamento, À nos amours. A cena acontece na mesa de jantar, todos reunidos, o pai (Pialat) reaparece e diz como as coisas são, como é a vida, o peso real da existência. A tristeza durará sempre surge nesse monólogo do pai à mesa. Ele diz que não importa muito se Van Gogh realmente disse isso ou não, mas que ele poderia ter dito. E acrescenta: a tristeza não é de Van Gogh, mas dos outros, nos outros, nos seus, em mim. Algo assim.
A tristeza está no mundo. A tristeza está em nós.
Ainda no primeiro ato de A gaivota, Nina diz a Trigorin: “É um mundo maravilhoso! Se o senhor soubesse como o invejo! A sorte não é igual para todos. Há os que arrastam sua vida monótona e apagada. Todos se assemelham entre si e todos são infelizes. A outros, como por exemplo ao senhor – um entre milhões – coube uma vida interessante, significativa e risonha… O senhor é feliz…”
Todos são infelizes. E mais: O senhor é feliz. As peças de Tchekhov, num reducionismo grosseiro da minha parte, giram em torno do par antitético tristeza/felicidade. As personagens de Tchekhov tendem a acreditar que perderam fatias consideráveis de suas vidas em coisas banais. Em síntese, vidas banais, insignificantes, tediosas e ridiculamente pequenas diante das expectativas ambiciosas que nutriam em relação ao futuro.
No quarto ato de Tio Vânia, o tio diz o seguinte: “Dê-me alguma coisa! Oh, meu Deus… Estou com quarenta e sete anos; se, digamos, chegar até os sessenta, ainda me restam treze. É muito! De que modo vou viver esses treze anos? O que vou fazer, com que vou me ocupar? Oh, sabe… (aperta a mão de Astrov convulsivamente), sabe, se pudesse viver o que me resta ainda da vida de um modo novo! Despertaria numa manhã clara e tranquila e sentiria que estou COMEÇANDO a viver de novo, que o passado caiu no esquecimento, dissolveu-se como a fumaça. (Chora.) Começar vida nova… Diga-me, como começar… com que começar…”
Astrov diz ao tio que a situação deles (e consequentemente da humanidade) é sem esperança. Não há recomeços possíveis. A vida é essa que está aí. Trate de inventar um sentido pra ela, diria Astrov se estivesse numa peça de Sartre, mas ele está numa peça de Tchekhov, e o que vem a seguir da boca de Astrov é a súmula da obsessão temática de Tchekhov, a qual ele irá repisar particularmente em cada uma de suas obras: “(grita irado) Basta! (Mais moderado.) Os que vêm depois de nós, daqui a cem, duzentos anos, e que nos desprezarão por termos vivido de modo tão tolo e com tanta falta de bom gosto – eles talvez encontrem a maneira de serem felizes, mas nós… A nós resta uma única esperança. A esperança de quando já estivermos descansando em nossos túmulos, receber a visita de espíritos, de espíritos agradáveis, quem sabe.”
As personagens de Tchekhov sobrevivem inexoravelmente represadas (vidas estanque) entre aquilo que são e aquilo que gostariam de ser. O presente é insuportável. O passado foi um desperdício. O futuro é repetição. Dito isso, resta viver. Da maneira que for possível. Do jeito que der. Quem sabe. Talvez.
Uma coisa é certa: não há esperanças. Não para nós.
Daniel Veronese retornou. E, mais uma vez, ladeado por Tchekhov. Escrevi sobre uma de suas montagens há dois anos. À época, tentei manifestar a uma amiga algumas impressões acerca da encenação. Falhei miseravelmente. Usei adjetivos sobremaneira. Fiz digressões. Recorri a analogias pedestres. Todavia, relendo o texto, uma coisa permanece intacta, fincada ao peito. O teatro que me interessa é aquele em que os atores criam. Em que existe liberdade pra se criar. Uma liberdade qualitativa, mediada e estruturada por limites muito claros. Anne Bogart insiste nesse ponto ao dizer que “são as restrições, a precisão, a exatidão, que possibilitam a liberdade”. É desse espectro de liberdade que falo.
É muito fácil notar qual tipo de liberdade foi estabelecida entre os atores e o encenador. A liberdade qualitativa, com limites, restrições e exatidão, ou a outra: sem limites, irrestrita e inexata. A qualidade da experiência recai decisivamente na escolha da liberdade, na escolha do território de liberdade almejado.
“O líquido tátil” é a materialização cênica do encontro entre Daniel Veronese e o Grupo Espanca!. O texto foi escrito em 97 por Veronese. Inicialmente, citei Maurice Pialat. A citação se justifica pelo modo como ambos trabalham o material dramatúrgico. Veronese no teatro; Pialat no cinema. Em “Sob o sol de Satã”, mais do que adaptar o livro de Bernanos para o cinema, Pialat reescreve, suprime e condiciona o roteiro a uma sucessão de momentos. Não é uma releitura ou uma adaptação, mas uma recriação de potências. De modo semelhante, Veronese procede por amputação. Amputa o membro (texto original que serviu de base) quase por completo e recria (tal qual uma prótese) um outro órgão. Do que foi extirpado, fica a essência, fica o gesto inscrito no corpo, a sensação do amputado que sente o membro presente no vazio que agora se faz parte.
A esse procedimento dramatúrgico praticado por Veronese, a amputação e o enxerto, encontra-se um outro, a subtração (nesse último caso, refiro-me aos aspectos da encenação). Apontei em Roberto Alvim esse mesmo sistema criativo na composição da cena, na escolha das modulações simbólicas, mas o modo como Alvim subtrai é inversamente oposto ao modo como Veronese suprime. A própria relação entre os símbolos no texto de Veronese faz pensar nessa idéia de substituição, troca, reposição, deslocamento, inversão. Os cachorros são substituídos. O irmão ocupa, momentaneamente, o lugar do outro. A família se reconfigura. Tudo é provisório e instável. Por outro lado, tudo leva a crer que as coisas permanecem irremovíveis.
A luz em “O líquido tátil” não sofre alterações, a não ser por dois momentos centrais. O mobiliário é mínimo. O perímetro ocupado pelos atores é exíguo, divisado claramente por tocos de madeira e um tipo de carpete verde (evidenciando claramente o aparato ficcional). A música é quase inexistente. As três unidades dramáticas são respeitadas quase que em sua totalidade (há fugas, decerto). Toda a concentração, simplicidade e frontalidade, a compactação desses elementos, organizam uma proposta de finalidade cristalina: a hegemonia da atuação (no que lembra muito “Prêt-à-porter”, guardadas suas distâncias e singularidades).
A esse aspecto, em todas as entrevistas que li, Veronese é categórico: “o que me interessa são os atores”. Comprime-se o espaço pra que a atuação seja sempre o centro da cena, da vida. Nada de ruídos ou interferências de outra ordem. Subtraem-se os elementos convencionais dos modos de fazer teatro a fim de que alguma coisa surja. A vida, talvez.
Trepliov, no primeiro ato de “A gaivota”, lembra-nos: “Personagens vivos! A vida precisa ser representada não como é nem como devia ser e, sim, como aparece em nossos sonhos”.
Grace Passô mantém seu campo de presença primoroso. Tudo em Grace parece existir por excessos. Vocal, corporal. Ao mesmo tempo, tudo parece menor, pequeno, do tamanho que for preciso. Desnecessário repetir o que todos dizem, mas seu domínio interpretativo parece ainda mais consistente, como se isso fosse possível. Gustavo Bones opta por uma composição mais tipificada, e se num primeiro momento isso soa ligeiramente estranho, no instante seguinte soa o mais natural possível, tamanha a autenticidade que Bones imprime ao que poderia se tornar um tipinho patético e sem cor. Marcelo Castro, por sua vez, de um cerebralismo cômico brilhante, de traços sem impostura e rigidez intelectual apaixonante, nos arrebata desmesuradamente. Até aqui, de tudo que pude ver de Marcelo Castro, essa personagem, Peter Expósito, figura sendo sua composição mais bonita.
As personagens de “O líquido tátil” discutem sobre representação, arte e afins. O cinema e o teatro aparecem aqui pra colocar em crise o próprio ato de representar, o conceito de realismo, a noção de verdade. A reboque de toda essa parafernália teorizante, a família. Dois irmãos e a mulher de um deles. O irmão vem visitar o casal. A coisa se desenrola a partir daí. Convencionou-se chamar as famílias aparentemente fora das normas (quais normas?) de disfuncionais. Sob essa ótica psi, essa seria uma dessas famílias. Prefiro pensar que essa é uma família normal, e que toda história familiar é estranhamente disfuncional e bizarra se observada microscopicamente, tal como Veronese nos situa na cena.
Veronese amputa “A gaivota” e o enxerto, a prótese, a membrana é esse pedaço de vida, esse corpo que sofre de existência e que o Espanca! traz à luz sem perder de vista os princípios éticos e estéticos que norteiam o grupo desde a primeira encenação. Ao lado da prosa poética (as pernas) de “Por Elise”, à esquerda do afeto agudo (coração) de “Amores surdos”, “O líquido tátil” é aquilo que reveste o esqueleto, os membros, os órgãos. Deve ser essa a epiderme da vida.
Victor Guimarães:
SOBRE FUROS, VAZAMENTOS E SUBSTÂNCIAS VISCOSAS
publicado no Dossiê Espanca! do site Horizonte da Cena em setembro de 2015
Isso era o que me irritava, Bruno, que se sentissem seguros. Seguros de quê? Diga lá, quando eu, um pobre diabo com mais pestes que o demônio debaixo da pele, tinha bastante consciência para sentir que era tudo feito de gelatina, que tudo ao redor tremia, que era só prestar um pouco de atenção, calar um pouco, para descobrir os furos… Na porta, na cama: furos. Na mão, no jornal, no tempo, no ar: tudo cheio de furos, tudo esponja, tudo como uma peneira peneirando a si mesma… [Julio Cortázar, El Perseguidor]
Para quem acompanhou a trajetória anterior do Espanca! – pelo menos até a saída de Grace Passô –, o encontro com Daniel Veronese em “O Líquido Tátil” não causa espanto. Embora seja a primeira ocasião em que tanto o texto quanto a direção de um espetáculo são assinados por alguém externo ao grupo, as afinidades temáticas, de tom e de estilo são tamanhas que, por momentos, a peça de Veronese (encenada pela primeira vez em 1997) parece um desenvolvimento natural das preocupações do Espanca!, ou uma sorte de elo perdido entre “Por Elise” e “Amores Surdos”. O gosto pela exploração do cotidiano familiar, pela espessura dos encontros íntimos, pela violência que se esconde sob a capa da normalidade; as contaminações frequentes entre a melancolia e o humor e as imprevisíveis mudanças de tonalidade; o minimalismo da encenação combinado à complexidade das invenções dramatúrgicas… está tudo lá, nas interações entre esses três atores (talvez em suas melhores performances até aqui) que ocupam um cenário despojado e fazem dele um território dramático vibrante.
Além da admiração confessa do Espanca! por Veronese, essa proximidade reenvia a uma frequência literária compartilhada por ambos os dramaturgos: o Cortázar das narrativas urbanas, como “Rayuela” e “El Perseguidor”. Embora Tchekhov seja a referência maior de Veronese – boa parte de suas peças se dedica a uma reimaginação de textos clássicos do autor russo, como em “Los hijos se han dormido” (2011), a partir de “A Gaivota” –, tanto no dramaturgo e diretor argentino como em Grace Passô há ecos notáveis de Cortázar: há esses personagens inteiramente mergulhados no próprio desespero, como que suspensos a um palmo do solo da realidade e sempre prestes a cair; esses diálogos inflamados que começam bem terrenos e logo se alçam à metafísica, para descer em seguida ao rés do cotidiano; e, principalmente, esses mundos ficcionais sempre ameaçados pela dissolução, como se uma perturbação interna – a loucura, o apego, o tédio, a droga, o medo – os fosse corroendo por dentro, até que uma intervenção abrupta – uma frase sem pontuação, um som imprevisto, um corpo estranho que cai – finalmente interrompa de um golpe o acontecer do mundo literário ou cênico.
Essa topografia ficcional sorrateiramente acidentada – esse mundo cheio de frestas e buracos que, embora renitentemente ocultados pela retórica dos personagens, são constantemente ameaçados pelo devir de um vazamento – é a marca indelével do teatro do Espanca!. A certa altura de “O Líquido Tátil”, Michael (Gustavo Bones), encantado com o poder do cinema de cristalizar imagens, pede a Peter (Marcelo Castro) que cite uma (“não três, não duas, uma”) imagem de teatro que lhe tenha ficado na memória. O personagem silencia, mas eu poderia facilmente citar três momentos singulares, três prodígios formais, três imagens insubstituíveis que o Espanca! me deu ao longo desses anos e que permanecerão vivas em minha memória para sempre (ainda que eu só tenha visto cada um dos espetáculos uma única vez): o despencar violento dos abacates em “Por Elise”; a lama que entra pela casa de “Amores Surdos”; o sangue na camisa de Peter ao final de “O Líquido Tátil”. Um princípio parece governar a intensidade dessas imagens: em todas elas, há algo de simultaneamente interno e externo, ao mesmo tempo pacientemente preparado e imprevisível, que se precipita abruptamente sobre a cena. O furo sempre esteve lá, e era possível intuí-lo, mas eis que então uma materialidade viscosa (abacate, lama, sangue) enfim vaza, toma de assalto o espectador e ressignifica todo o resto.
Em “O Líquido Tátil”, as comparações entre teatro e cinema ocupam boa parte dos diálogos – e muitas vezes soam pueris, beirando o enfadonho, em consonância com o tédio irritante que emana de um personagem como Peter (e da atuação – mais uma vez – brilhante de Marcelo Castro). No entanto, tudo o que as dissociações operadas pelos discursos de Michael e Peter definem como cisão irremediável é constantemente contrariado pela encenação de Veronese e do Espanca!. A atuação de Gustavo Bones – numa notável partitura corporal que reenvia simultaneamente à pantomima e ao burlesco de Chaplin a Jim Carrey – e o momento em que uma projeção de imagens-movimento invade a cena minimalista já seriam o bastante para comprovar a potência das contaminações entre as duas artes, mas há um princípio formal ainda mais pungente em jogo nesse teatro. O que é essa perturbação intensa e constante da cena por um elemento invisível (os abacates de Por Elise, o hipopótamo de Amores Surdos, o cachorro Titan Tinanovich em “O Líquido Tátil”) senão a potência da reserva temporal do fora-de-campo (ou do extracampo, para usar os termos de Deleuze)?
O jogo com a restrição espacial do quadro cinematográfico provoca, de Dreyer a Tsai Ming-Liang, de Bresson ao cinema de horror, a precipitação sobre o visível de uma intensidade outra, que não vemos, mas que incide sobre o que vemos. Quando acionada, a zona de vizinhança entre campo e fora-de-campo no cinema guarda um denso compasso de espera, prestes a sofrer a intervenção de um elemento externo que se precipita sobre a cena e rompe de vez o invólucro já esburacado do plano. Nas encenações do Espanca!, é também disso que se trata: da presença sensível de uma ausência, de um invisível que opera subterraneamente sobre o visível até que algo finalmente transborda e vaza.
Em “O Líquido Tátil”, a presença do cão já se anunciava desde o primeiro monólogo de Nina Hagëken – uma sorte de etimologia selvagem da palavra –, continuava nas memórias da montagem de “A Dama do Cachorrinho”, tornava-se lúgubre nos relatos sobre o “suicídio” dos antigos cachorros da casa. Impregnava os objetos – o cãozinho de pelúcia dado por Michael a Nina, que ela mete no meio das pernas e que permanece lá durante quase todo o espetáculo –, contaminava as atuações – a volúpia zoófila de Nina encarnada na sensualidade animalesca e na extraordinária voz de Grace, nunca antes tão gutural – e atingia a cenografia: o espaço localizado em um dos lados do palco, que sugere um cômodo contíguo onde está Titan, opera justamente como essa zona de vizinhança entre campo e fora-de-campo, essa espera densa contaminada pelo invisível que se assenta na restrição espacial.
Mas é apenas quando a cena finalmente explode nos ruídos, no jogo de luzes e na entrada abrupta de Peter no palco – vindo do tal cômodo, com a camisa ensopada de sangue –, que o vazamento acontece e brilha na capacidade de fazer todo o resto ganhar um sentido novo. Durante toda a peça, o espectador intuía a existência e sentia a força dessa ausência, mas é só quando ela reemerge – tornada visível por metonímia – na viscosidade do vermelho que encharca a camisa, que o “tranquilo ambiente burguês” (nas palavras usadas por Peter para descrever os Tchekhov encenados por Nina) se torna irresolutamente perfurado, tremulante, esponjoso. É então que o mundo – palco, plateia, rua – nos aparece como uma peneira deliciosamente incapaz de conter o fluxo da vida.
*Victor Guimarães é doutorando em Comunicação Social pela UFMG. Crítico de cinema na revista Cinética desde 2012.
Amores Surdos estreou dia 24 de março de 2006 no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão, em Curitiba, Paraná.
2015
Dezembro
– Nova Dramaturgia da Melanina Acentuada – Ocupação Teatro Dulcina. Rio de Janeiro, RJ.
Setembro
– Auditório CONFA – mostra PLATÔ no Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colômbia.
Agosto
– PLATÔ (Plataforma de Internacionalização de Teatro) – programação da Rede Via Dupla no Teatro Espanca!. BH, MG.
Julho
– Teatro Diego Rivera – Festival Temporales Teatrales. Puerto Montt, Chile
– Centro Cívico Mirasol – Festival Temporales Teatrales. Puerto Montt, Chile
Maio
– curta temporada no teatro do SESC Ipiranga – Mostra Espanca! 10 anos. São Paulo, SP.
2014
Setembro/Outubro
– Espanca! 10 anos – temporada no CCBB-BH. Belo Horizonte, MG.
Abril
– Festival Iberoamericano de Teatro – Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá, Colômbia.
2012
Novembro
– Temporada no Centro Cultural Banco do Brasil – projeto “espanca! Temporada RJ”. Rio de Janeiro, RJ.
Julho
– 25º Inverno Cultural – Teatro Municipal. São João Del Rey, MG.
Maio
– Sala Verdi. Montevideu, Uruguai.
2011
Dezembro
– Arte no Centro – temporada no Teatro espanca!. Belo Horizonte, MG.
Junho
– Teatro Municipal Usina Gravatá – Agenda 2011. Divinópolis, MG.
Maio
– espanca! em cartaz – temporada no Teatro espanca!. Belo Horizonte, MG.
2010
Agosto
– Festival de Teatro de Fortaleza – Theatro José de Alencar. Fortaleza, CE.
Março/Abril/Maio
– Viagem Teatral SESI-SP – Birigui, Marília, São José do Rio Preto, Franca, Araraquara, Rio Claro, Piracicaba, Itapetininga, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, São José dos Campos, Santos e São Paulo.
2009
Setembro
– Espanca à Mostra – Teatro do Oi Futuro. Belo Horizonte, MG.
Agosto
– Teatro em Movimento – Teatro Zélia Olguin. Ipatinga, MG.
Julho
– Teatro Municipal de Sabará, MG.
2008
Novembro
– Prêmio Cena Minas – Teatro Municipal de Nova Lima, MG.
– Festival Teatro Vocacional – CEU Cidade Dutra – São Paulo, SP.
Setembro
– Porto Alegre em Cena – Teatro de Câmara Túlio Piva. Porto Alegre, RS.
Agosto
– Cena Contemporânea – Centro Cultural Banco do Brasil. Brasília, DF.
Junho
– FIT – Festival Internacional de Teatro Palco e Rua – Teatro Dom Silvério. Belo Horizonte, MG.
Março
– Curta temporada no Teatro Francisco Nunes – Belo Horizonte, MG.
Janeiro/Fevereiro
– Temporada no SESC Av. Paulista – São Paulo, SP.
2007
Novembro
– Festival Recife do Teatro Nacional – Teatro Hermilo Borba Filho. Recife, PE.
Outubro
– Temporada no Teatro da Caixa – Rio de Janeiro, RJ.
Julho
– Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, SP.
– Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes – Ouro Preto, MG.
Junho
– FILO – Festival Internacional de Teatro de Londrina – Teatro Marista. Londrina, PR.
Março
– VerãoArteContemporânea – Temporada no Teatro Francisco Nunes – BH, MG.
Fevereiro
– Campanha de Popularização do Teatro e da Dança – Temporada na Sala João Ceschiatti do Palácio das Artes – BH, MG.
2006
Novembro
– Teatro Encontro.Com – Sala João Ceschiatti do Palácio das Artes – BH, MG.
Outubro
– Riocenacontemporanea – Teatro Sérgio Porto. Rio de Janeiro, RJ.
Setembro
– Curta temporada no SESC Pompéia – São Paulo,SP.
Julho
– Curta temporada no Teatro da Caixa – Curitiba, PR.
Maio
– Temporada na Sala João Ceschiatti do Palácio das Artes – BH, MG.
Março
– Estréia nacional – Mostra Oficial do Festival de Teatro de Curitiba. Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão. Curitiba, PR.
PRÊMIOS:
– Vencedor do Prêmio Usiminas-Sinparc/MG 2006 – melhor texto inédito.
– Vencedor do Prêmio Usiminas-Sinparc/MG 2006 – melhor atriz (Grace Passô).
– Indicado ao Prêmio Qualidade Brasil 2008 – São Paulo – nas categorias Melhor Espetáculo Teatral Drama, Melhor Ator Teatral Drama (Paulo Azevedo), Melhor Atriz Teatral Drama (Grace Passô) e Melhor Direção Teatral Drama.
– Indicado ao Prêmio Shell – edição São Paulo – nas categorias Melhor Dramaturgia, Direção e Cenário 2008.
– Indicado a melhor espetáculo adulto, direção, ator (Paulo Azevedo), ator coadjuvante (Marcelo Castro), cenário e criação de luz no Prêmio Usiminas-Sinparc/MG 2006.
Por Elise estreou dia 22 de março de 2005, no Teatro José Maria Santos, em Curitiba, Paraná.
2016
Setembro
– Conexões Teatrais (12 anos do grupo Espanca!) – SESC Palldium. Belo Horizonte, MG.
2015
Maio
– curta temporada no teatro do SESC Ipiranga – Mostra Espanca! 10 anos. São Paulo, SP.
Fevereiro
– Feverestival (Festival Internacional de Teatro de Campinas) – Teatro Castro Mendes. Campinas, SP.
2014
Julho
– Espanca! 10 anos – temporada no CCBB-BH. Belo Horizonte, MG.
Janeiro
– K-iau em Cena – Festival Nacional de Teatro – Centro Cultural Luz da Lua. Araçuaí, MG.
2013
Setembro
– Festival Internacional de Teatro de Dourados – teatro Municipal de Dourados, MS.
Julho
– Festival de Inverno de Garanhuns – teatro Luiz Souto Dourado. Garanhuns, PE.
2012
Dezembro
– temporada no Teatro Ipanema – projeto “espanca! Temporada RJ”. Rio de Janeiro, RJ.
2011
Novembro
– Festival de Teatro de Ribeirão Preto – teatro Municipal. Ribeirão Preto, SP.
Julho
– Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes. Teatro SESI-Mariana, MG.
Maio/Junho
– espanca! em cartaz – temporada no Teatro do Oi Futuro. Belo Horizonte, MG.
2010
Agosto
– Festival de Teatro de Fortaleza – Theatro José de Alencar. Fortaleza, CE.
2009
Setembro
– espanca! à Mostra – Teatro do Oi Futuro. Belo Horizonte, MG.
Agosto
– Teatro em Movimento – Teatro SESI. Contagem, MG.
– Teatro em Movimento – Teatro Zélia Olguin. Ipatinga, MG.
2008
Novembro
– Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia – SESC/SENAC Pelourinho. Salvador, BA.
– Festival Brasileiro de Artes Cênicas do Pará – Teatro Margarida Schivazzappa. Belém, PA.
Setembro
– Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga – Teatro Municipal Rachel de Queiroz. Guaramiranga, CE.
– Projeto Encenação – Dragão do Mar. Fortaleza, CE.
– Porto Alegre em Cena – Teatro de Câmara Túlio Piva. Porto Alegre, RS.
Março/Abril/Maio
– Viagem Teatral SESI-SP – Santo André, Mauá, Santos, Birigui, Marília, Araraquara, Franca, Rio Claro, Piracicaba, Itapetininga, Sorocaba e Osasco.
– Teatro Municipal de Sertãozinho, SP.
2007
Novembro
– Cabeça, Tronco e Membro(s) – Diálogos Cênicos Nacionais – Espaço Parlapatões. São Paulo, SP.
Outubro
– Centro Cultural Humberto Mauro – Circulação Telemig Celular-CEMIG – Cataguases, MG.
Agosto/Setembro
– Temporada Teatro dos Quatro – Circulação Telemig Celular-CEMIG – Rio de Janeiro, RJ.
Agosto
– FENTEPP – Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente, SP.
Julho
– Festival de Inverno de Campina Grande – Teatro Municipal Severino Cabral. Campina Grande, PB.
– Sala Apollo – Circulação Telemig Celular-CEMIG – Recife, PE.
– Teatro SESI Armando Monteiro – Circulação Telemig Celular-CEMIG – João Pessoa, PB.
– Festival de Inverno de Congonhas, MG.
– Inverno Cultural – São João Del Rey, MG.
Junho
– Teatro Sesi Minas, Circulação Telemig Celular-CEMIG – Uberaba, MG.
Abril
– Acto1! encontro de teatro – Teatro Dom Silvério (Chevrolet Hall) – Belo Horizonte, MG.
Fevereiro
– Festival Brasileiro de Teatro de Itajaí – Teatro Municipal. Itajaí, SC.
Janeiro
– Campanha de Popularização do Teatro e da Dança – Temporada no Teatro Dom Silvério (Chevrolet Hall) – Belo Horizonte, MG.
2006
Novembro
– Curta temporada no Teatro Dom Silvério (Chevrolet Hall) – Belo Horizonte, MG.
– Mostra “BH Mostra BH”, Teatro Dom Silvério (Chevrolet Hall) – Belo Horizonte, MG.
– Agenda Cultural – Auditório Fernando Oliveira Silva – Ouro Branco, MG.
– Teatro Solar, Circulação Telemig Celular-CEMIG – Juiz de Fora, MG.
Outubro
– Programação Usicultura – Teatro do Centro Cultural Usiminas – Ipatinga, MG.
– Outubro do Teatro – João Pessoa, PB.
Setembro
– Curta temporada no SESC Pompéia – São Paulo, SP.
– Festival Rota Cultural MBR – Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima. Nova Lima, MG.
– Cena Contemporânea – Centro Cultural Banco do Brasil. Brasília, DF.
Julho/Agosto
– Curta temporada no Teatro da Caixa – Curitiba, PR.
– Mostra Nacional de Teatro de Uberlândia. Teatro Rondon Pacheco. Uberlândia, MG.
– FIT – Festival Internacional de Teatro Palco e Rua – Teatro Klauss Vianna. Belo Horizonte, MG.
Junho
– Copa da Cultura – Festival Brasil em Cena – Hebbeltheater – Hau. Berlim, Alemanha.
Maio
– Mostra de Referências Teatrais – Galpão das Artes. Suzano, SP.
– Espaço Cultural CPFL – Campinas, SP.
Janeiro
– Campanha de Popularização do Teatro e da Dança – Temporada no Teatro Marília – BH, MG.
2005
Novembro
– Lançamento do livro “Por Elise” – Teatro Klauss Vianna – Belo Horizonte, MG.
– Curta temporada no Teatro Klauss Vianna – Belo Horizonte, MG.
– Festival Recife do Teatro Nacional. Teatro Barreto Júnior, PE.
Outubro
– Encontro SESI de Artes Cênicas – Araxá, MG.
– RioCenaContemporânea – Sala Baden Powell. Rio de Janeiro, RJ.
– Experimento Cênico – SESC Araraquara, SP.
Setembro
– Temporada no SESC Belenzinho – São Paulo, SP.
Agosto
– Reinauguração Teatro Marília – Belo Horizonte, MG.
Julho
– Festival de Inverno de Itabira, MG.
– Festival de Inverno de Ouro Preto – Fórum das Artes, MG.
– Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, SP.
Junho
– FILO – Festival Internacional de Londrina – Teatro FILO. Londrina, PR.
Maio
– Curta temporada no SESC Pompéia – São Paulo, SP.
– Temporada no Galpão Cine Horto – Belo Horizonte, MG.
Março
– Estréia nacional – Festival de Teatro de Curitiba – Fringe – Teatro José Maria Santos. Curitiba, PR.
PRÊMIOS:
– Vencedor do Prêmio SESC-SATED/MG – Edição Comemorativa (2006) – Melhor texto
– Vencedor do Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de melhor texto teatral 2005.
– Vencedor do Prêmio Shell – edição São Paulo – Melhor Dramaturgia 2005.
– Vencedor do Prêmio SESC-SATED/MG – Melhor Espetáculo 2005.
– Vencedor do Prêmio SESC SATED/MG – Melhor texto 2005.
– O grupo Espanca! foi indicado ao Prêmio Shell 2005 – edição São Paulo – na Categoria Especial, pela criação e concepção do espetáculo “Por Elise”.
– Indicado a melhor atriz (Grace Passô) e trilha sonora no prêmio SESC-SATED/MG 2005.
– Indicado a melhor espetáculo adulto, texto inédito e atriz coadjuvante (Samira Ávila) no Prêmio Usiminas-Sinparc/ MG 2005.
– Indicado em 2005 pela Revista Bravo! como um dos 100 melhores espetáculos de artes cênicas produzidos nos últimos oito anos no Brasil (67ª colocação).
Congresso Internacional do Medo estreou no dia 04 de julho de 2008, no Teatro Klauss Vianna, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
2015
Maio
– Festival Palco Giratório – teatro SESC Centro. Porto Alegre, RS.
– curta temporada no teatro do SESC Ipiranga – Mostra Espanca1 10 anos. São Paulo, SP.
2014
Agosto
– IX Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo – CCSP. São Paulo, SP.
Junho
– Espanca! 10 anos – temporada no Teatro Alterosa. Belo Horizonte, MG.
2013
Setembro
– mostra Rumos Teatro – Itau Cultural. São Paulo, SP.
– curta temporada no Teatro Alterosa. Belo Horizonte, MG.
2011
Julho
– Espanca! em cartaz – temporada no Galpão Cine Horto – Belo Horizonte, MG.
Junho
– Festival do Teatro Brasileiro – Cena Mineira – Teatro Guairinha. Curitiba, PR.
2010
Outubro
– Acto2! encontro de teatro – Galpão Cine Horto. Belo Horizonte, MG.
2009
Setembro
– Espanca à Mostra – Teatro do Oi Futuro. Belo Horizonte, MG.
Julho
– Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes – Teatro do SESI. Mariana, MG.
Junho
– FILO – Festival Internacional de Teatro de Londrina. Teatro FILO. Londrina, PR.
Fevereiro
– Mostra Nacional de Teatro de Uberlândia. Teatro Rondon Pacheco. Uberlândia, MG.
– VerãoArteContemporânea – Temporada no Teatro Marília – Belo Horizonte, MG.
2008
Dezembro
– Riocenacontemporanea – Casa de Cultura Laura Alvim. Rio de Janeiro, RJ.
Agosto
– Cena Contemporânea – Teatro Nacional / Sala Martins Penna. Brasília, DF.
Julho
– Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, SP.
– Estréia nacional – Festival Internacional de Teatro Palco e Rua (FIT) – Teatro do Oi Futuro. Belo Horizonte, MG.
Marcha Para Zenturo estreou dia 16 de Julho de 2010, no ginásio do SESC São José do Rio Preto, São Paulo.
2014
Maio
– Festival Palco Giratório – Teatro SESC Centro. Porto Alegre, RS.
Março
– Acto3! Encontro de Teatro – Galpão Cine Horto. Belo Horizonte, MG.
2013
Junho
– temporada no Teatro da Caixa. Brasília, DF.
Fevereiro
– temporada no Teatro Nelson Rodrigues (Caixa Cultural) – projeto “espanca! Temporada RJ”. Rio de Janeiro, RJ.
2011
Fevereiro
– Residência Grupo XIX de Teatro / VerãoArteContemporânea – Teatro do Oi Futuro. Belo Horizonte, MG.
Janeiro/Fevereiro
– temporada no Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho. São Paulo, SP.
2010
Dezembro
– SESC Belenzinho – São Paulo, SP.
Novembro
– Acto2! encontro de teatro – Galpão Cine Horto. Belo Horizonte, MG.
Setembro
– Temporada no SESC Copacabana – Rio de Janeiro, RJ.
Julho
– Estréia nacional – Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Ginásio do SESC São José do Rio Preto, SP.
PRÊMIOS:
– Indicado a melhor texto inédito, luz, cenário e figurino no Prêmio Usiminas/Sinparc 2011.
Texto e Direção: Daniel Veronese
Atores: Grace Passô (Nina Hagëken), Gustavo Bones (Michael Expósito) e Marcelo Castro (Peter Expósito)
Tradução do Texto: Gustavo Bones
Concepção de Cenografia, Luz, Vídeo e Trilha Sonora: Daniel Veronese
Cenotécnico: Nilson dos Santos
Iluminação: Edimar Pinto
Edição de Vídeo: Fábio Gruppi
Figurino: Espanca!
Produção: Aline Vila Real
Realização: Espanca!
Classificação: 14 anos
Duração: 55 minutos
espetáculo realizado com recursos do Petrobras Cultural, patrocinado pela Petrobras através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
O Líquido Tátil estreou dia 01 de setembro de 2012 no teatro espanca!, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
2015
Setembro
– Auditório SESI – Festival Artes Vertentes, Tiradentes, MG.
Abril
– Terça Tem Teatro – programação do Itaú Cultural. São Paulo, SP.
Março
– Gamboavista – programação do Galpão Gamboa. Rio de Janeiro, RJ.
2014
Outubro
– Floripa Teatro – Festival de Teatro Isnard Azevedo – Teatro SESC Prainha. Florianópolis, SC.
– Espanca! 10 anos – temporada no CCBB-BH. Belo Horizonte, MG.
Junho
– circulação Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz – C.A.S.A. Nova Lima, MG.
Maio
– circulação Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz – Palco de Arte. Uberlândia, MG.
– circulação Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz – Teatro SESI. Uberaba, MG.
– FIT/BH – Festival Internacional de Teatro Palco e Rua – Sala Juvenal Dias, Belo Horizonte, MG.
– circulação Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz – Teatro Municipal. Dourados, MS.
Abril
– circulação Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz – Clube Feminino. Cuiabá, MT.
Fevereiro
– VAC – VerãoArteContemporânea. Centro Cultural Banco do Brasil. Belo Horizonte, MG.
2013
Novembro
– Encontro SESI de Artes Cênicas. Teatro do SESI. Araxá, MG.
Outubro
– Festival de Teatro do Agreste. Teatro João Lyra Filho. Caruaru, PE.
– Trema Festival. Teatro Barreto Júnior. Recife, PE.
Julho
– Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes. Centro de Artes e Convenções. Ouro Preto, MG.
Março, Abril
– Temporada no Espaço Cênico do SESC Pompeia. São Paulo, SP.
Março
– Festival de Teatro de Curitiba – Mostra 2013 – teatro Paiol. Curitiba, PR.
– Teatro Espanca! ABERTO PARA – ocupação do teatro espanca!. Belo Horizonte, MG.
2012
Outubro
– Temporada no Centro Cultural Banco do Brasil – projeto “espanca! Temporada RJ”. Rio de Janeiro, RJ.
Setembro
– Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia – teatro Matim Gonçalves. Salvador, BA.
– Estreia nacional – temporada no teatro espanca!. Belo Horizonte, MG.
PRÊMIOS:
– Indicado ao 2º Prêmio Questão de Crítica (RJ) – categoria Elenco
O insustentável peso do teatro, por Victor Guimarães
Violentamente poético, de Soraia Belusi
Traços do REAL, de Soraia Belusi [sobre o processo de criação]
O insustentável peso do teatro
– Por Victor Guimarães, no site Horizonte da Cena –
Entre o corte da espada e o perfume da rosa
Sem menção honrosa, sem massagem
Racionais MCs
O que pode o teatro diante da urgência do real? O que pode essa arte da cena – essa que demanda tempo, trabalho, forma, mas que acontece sempre na contemporaneidade imprevisível do palco – frente a esse amálgama amargo de violência, velocidade e esquecimento a que chamamos presente? Essa parece ser a questão que atravessa o espetáculo mais recente do Espanca!, o conjunto de quatro peças curtas Real. Logo de início, a permeabilidade da cena às premências do mundo é explicitada pela apresentação do processo que conduziu àquela noite, àquele palco: ainda com as luzes acesas, ouvimos a introdução feita pela produtora do grupo, Aline Villa Real, que nos conta que cada uma das peças teve como disparador um acontecimento político recente, noticiado pela imprensa brasileira. Numa reinvenção contemporânea dos métodos do teatro de revista, as notícias inspiraram o trabalho de quatro dramaturgos de destaque na cena nacional: o linchamento de Fabiane Maria de Jesus no Guarujá, em 2014, é o estopim para “Inquérito”, de Diogo Liberano; o atropelamento do ciclista David Santos Souza na Avenida Paulista em 2013 motiva “O Todo e As Partes”, de Roberto Alvim; a greve dos garis cariocas em pleno Carnaval de 2014 desengatilha “Parada Serpentina”, de Byron O’Neill; e a chacina na favela da Maré, em 2013, suscita “Maré”, de Marcio Abreu.
Cada um desses fatos é ao mesmo tempo um rastilho a percorrer cada texto, um pavio a incendiar os corpos em cena e uma presença fantasmática a acionar a memória de cada espectador. Da extrema volatilidade dos eventos cotidianos – essa que faz com que cada timeline seja convertida diariamente num túmulo precaríssimo, apto para sustentar o luto por algumas horas, mas incapaz de deter o fluxo inexorável do esquecimento – surge o combustível para o teatro, essa arte que, dentre todas, é a que menos combina com a morte. E, no entanto, é sobretudo de morte – dessa morte diária, frágil, veloz como um automóvel, um espancamento ou um tiro – que é feita a matéria dramática de Real. O gesto consiste em transfigurar essa imperdoável ligeireza em obra viva e pulsante, em recuperar o peso e a densidade de cada tragédia singular, em oferecer a cada evento uma chance de sobreviver transformado em cena.
“Inquérito” nos apresenta uma casa, habitada por um pai, duas filhas (ambas interpretadas por atores homens), o fantasma de Fabiane (que também faz as vezes de narradora) e duas outras figuras masculinas que permanecem na sombra das adjacências do palco, até que a energia da cena os convoque a atuar. Sob o impacto da ausência súbita da mãe, a família se engaja em um jogo dialógico violento, em que aquele que não responde a uma pergunta deve apanhar. A memória do linchamento ora tinge de brutalidade a brincadeira – cada momento de tensão é uma ocasião para que a reserva de ódio contida nos atores à espreita seja ativada com prontidão em socos e pontapés –, ora é encarnada na narração da mulher-fantasma.
A crença nas potências do artifício e no poder de evocação do teatro – que atravessa todas as quatro peças – é o que anima os melhores gestos de “Inquérito”, esses em que a violência do ato encontra abrigo numa encenação a um só tempo lúdica e intensamente grave. Mas é essa mesma crença que parece vacilar quando os diálogos da família oscilam indecisamente entre o coloquial e o declaratório – nos vários momentos em que a dureza da deixa supera a vivacidade da relação entre os atores –, ou quando a narradora se vê obrigada ora a afirmar desnecessariamente a ficcionalidade do que vemos (“Isso é teatro”), ora a lamentar o acontecimento, dizendo com voz embargada o nome de Fabiane. Nessas operações, é como se a peça precisasse sobrepor ao drama real um suplemento de dramaticidade – cujo emblema é o tom de lamento da narração de Gláucia Vandeveld –, talvez ignorando que o gesto mais forte de sua poética consistia justamente em despir a narrativa de seu caráter espetacular, em desativar a homogeneidade telenovelesca das notícias e abri-las à multiplicidade improvável do teatro.
“Por que a mamãe morreu?”. A pergunta-refrão que permeava “Inquérito” parece encontrar uma resposta dramatúrgica no niilismo resoluto de “O Todo e as Partes”, cuja fatura é diametralmente oposta à da primeira peça. A aterradora ausência de sentido moral da violência é aqui assumida em toda a sua radicalidade, numa encenação que aposta decididamente na desumanização como princípio. Instalados pela trilha sonora em um sinistro hospital, somos apresentados a três corpos imobilizados, que se insinuam na escuridão do palco e compõem uma imagem beckettiana: de um lado a vítima, do outro o algoz, no centro uma figura estranha, espécie de deidade monstruosa responsável por gerir a cena. Um detalhe crucial do acontecimento – o braço arrancado do ciclista, que permanece no interior do carro e depois é arremessado pelo motorista num córrego – dispara uma encenação que torna literal a objetificação do humano: numa peculiar aplicação da Lei de Talião, o juiz ordena que o braço do motorista seja arrancado de seu corpo e implantado no tronco do rapaz mutilado. A narrativa traçará a trajetória desse pedaço de corpo, que ganha uma autonomia atroz e termina por ceifar também as pernas do ciclista e depois assassiná-lo, para então retornar ao dono.
O cruzamento com o teatro de bonecos do grupo Pigmalião amplifica a rigidez cirúrgica da dramaturgia de Roberto Alvim e se encarna no estilo declaratório das falas, aqui assumido em sua inteireza pelos atores (especialmente por Gustavo Bones, a figura central). A consistência inanimada dos corpos – entre homens e bonecos – contrasta com a mobilidade do braço amputado, único personagem a se movimentar no espaço. Diante de uma realidade a tal ponto reificada, é preciso coisificar também a cena, cifrando na “fortaleza imaculada” de um “braço viril” – e na complementar autonomia de um automóvel-projétil em alta velocidade – o destino de uma humanidade arruinada. A nós, espectadores, igualmente imóveis, resta a vertigem da contemplação das coisas que já se movimentam sozinhas.
Na transição para “Parada serpentina”, ainda com as luzes acesas, a menção ao movimento incessante que encerrava a peça anterior se materializa num saco de lixo, que dessa vez precisa do engajamento dos atores e atrizes para se lançar de um lado a outro do palco. Da depuração extrema saltamos à ocupação populosa do espaço. Aos poucos, no bojo desse aquecimento que já integra a cena, o conteúdo do saco vai se esparramando pelo chão e passa a compor o cenário, entre o lixo de todos os dias e os restos festivos de um carnaval. Animado pela trilha sonora, o jogo inicial se torna coreografia ritmada, celebração alegre no passinho, para depois se refazer em blocos de corpos que se atraem e se movimentam juntos, entre o organismo e a orgia, entre o montinho e o motim (como descreveu belamente Soraya Belusi em seu texto aqui no Horizonte da Cena).
A dramaturgia de Byron O’Neill é uma aposta radical na evocação: não há diálogos, não há palavras senão aquelas das canções e dos cantos de protesto que contaminam a trilha sonora. A greve carnavalesca dos garis cariocas dispara uma encenação que investe no limiar entre o protesto e a festa, entre o detrito e o confete, mas que ganha corpo e singularidade num impressionante tableau vivant em moto-contínuo que mistura signos da história recente das lutas festivas belo-horizontinas (a camiseta do Movimento Fora Lacerda, o Chapolin, o traje das banhistas da Praia da Estação) à memória do movimento grevista, mas do qual não está ausente uma iconografia da violência urbana. As roupas se perdem pelo caminho, as atrizes e os atores se tocam e se fundem, os blocos moventes se formam e se desfazem numa celebração libertina, mas também são capazes de atropelar o corpo negro de Alexandre de Sena, que se erguerá ao final sobre essa provisória massa humana como uma escultura em riste. Entre foliões e lixeiros e moradores de rua; entre o muralismo, o grafitti e a action painting; entre a bateria da escola de samba, o tamborim da manifestação e os tiros da polícia; entre a dança, a fusão orgiástica e o rolo compressor, o que “Parada Serpentina” encena é uma vibração densa, uma miríade contagiante de sons, cores, imagens e corpos em perpétuo movimento, capaz de nos colocar diante da confusão da experiência histórica brasileira recente de uma maneira avassaladora.
Do movimento dos corpos, passamos aos meandros sinuosos da voz. “Maré” parece captar a plasticidade móvel de “Parada Serpentina” e encarná-la no texto e na dicção de Gláucia Vandeveld, que ressurge luminosa no palco como a matriarca de uma família dilacerada pela chacina. Depois de uma viagem à urbanidade, estamos de volta ao espaço íntimo, mas dessa vez há algo que espreita lá fora, uma violência ancestral que está prestes a dar mais um bote no presente. A extraordinária textualidade de Marcio Abreu – também presente em “Vida”, da Cia Brasileira, e em “Nós”, do Grupo Galpão, recentemente apresentadas em Belo Horizonte – aparece aqui em sua encarnação mais exuberante, numa série de melopeias polifônicas que restituem, a partir de diferentes pontos de vista, uma cotidianidade alegre fraturada pelo assassinato súbito de um pai. Os fragmentos de casos de um tempo povoado de histórias de seres mágicos (esses que também aparecem no filme “Contos da Maré”, de Douglas Soares) se juntam à infância, ao feijão no fogo, ao trabalho duro e a toda a riqueza existencial da vida na favela, mas também são assombrados pelo espectro da morte.
Na brincadeira das crianças, essa dicção ao mesmo tempo fragmentária e harmônica se distribui em diferentes vozes, que compõem uma sorte de jogral fantasmático povoado de imagens. De forma ainda mais impressionante, a avó, a mãe e o pai se engajam em monólogos que vão da descrição ao protesto, do poema ao canto, da repetição à variação, da coloquialidade ao recitativo, num texto ao mesmo tempo musical e cinematográfico, que parece vibrar na mesma frequência tensa da iminência do desastre. A desconstrução da língua dá lugar a uma fala polimorfa, mas que ganha uma fluidez notável no trabalho vocal dos atores. No último dos monólogos, Alexandre de Sena fala e de repente canta, descreve uma cena e de súbito faz explodir a sintaxe, como se a interrupção brusca de uma frase materializasse a extinção abrupta de mais uma vida.
“Angústia” é a palavra que se repete e se acentua ao final de “Maré”, e é com essa sensação violentamente aflitiva que deixamos o espetáculo, entregues de volta (um pouco mais mortos, mas também um pouco mais vivos) à agonia inescapável do real. Num momento em que o teatro belo-horizontino vive uma peculiar conjunção de inquietações quanto a um possível engajamento de seus artistas na experiência vertiginosa do presente – materializada já nos títulos (“Urgente”, “Nós” e “Real”) dos novos espetáculos de três dos grupos mais importantes da cidade –, o Espanca! se destaca do conjunto ao colocar em cena um espectro assustadoramente variado e potente de poéticas singulares, todas capazes de fazer do teatro um lugar de encontro com a face mais violenta da beleza. Diante da dor dos outros não há leveza possível.
Exercícios Políticos de Imaginação – corporalidades na cena brasileira
Artigo de Fernanda Raquel e Christine Greiner
Um dos binarismos mais solidificados em nossos hábitos cognitivos é a linha que divide o mundo entre Norte e Sul, onde o Norte representaria o que é bom e o Sul o que não vale a pena. O autor português Boaventura de Sousa Santos (2007) argumenta que esta separação é resultante do pensamento abissal, ou seja, o pensamento ocidental que tende a jogar no abismo tudo que não é produzido por ele mesmo, criando zonas cartográficas de invisibilidade. Ele nos convoca a desenvolver epistemologias do sul, de forma a reverter essa desqualificação a que sempre somos submetidos quando os valores ditos universais são os que regem as categorias de validade. A dança e o teatro não são imunes a esta tendência. Em tempos neoliberais, quando as relações de poder se aprofundam, a noção de “encontro” é cada vez mais complexa, mesmo entre artistas. Este artigo escolhe duas experiências cênicas que nascem de diferentes contextos no Brasil, mas têm algo em comum. Para criar uma aproximação com as singularidades de cada uma dessas experiências, propomos uma discussão acerca da centralidade do corpo que emerge quando o desejo é o de multiplicar as perspectivas, desmoldurar e não formatar. Os encontros entre os corpos no trabalho de dança de Lia Rodrigues (RJ) e no trabalho de teatro do grupo Espanca! (MG) são como imagens de plasticidade que fazem tocar a diferença. E isso não quer dizer que não haja tensionamento, mas que justamente na tensão é que se encontra a potência de deixar aparecer o movimento do outro, a voz da alteridade, permitir a existência do espaço-entre. Não o espaço que separa, mas aquele que faz encontrar.
O corpo não aceita as oposições binárias. Desmonta qualquer tentativa de dicotomia. É assim que ele funciona, e é importante sabê-lo para estudar todas as instâncias que o atravessam. “A ideia, em suma, de que o real foge por todos os buracos da malha, sempre demasiadamente larga, das redes binárias da razão” (VIVEIROS DE CASTRO, 2013, p. 17). O corpo também é produtor de conhecimento e não reconhece demarcações territoriais, sem distinguir instâncias apartadas de dentro e fora. Por isso, entra em cena de maneira contundente quando a questão fundamental é problematizar tudo que se encontra previamente definido e classificado. Os trabalhos colocados em pauta neste artigo estão sintonizados com este processo e o que fazem é explicitar “as possibilidades, o que ainda está por vir, o quase, o entre – esse espaço intervalar que pode produzir outros modos de organização do pensamento (…)” (RAQUEL, 2011, p. 32). Corpos que ativam também redes de resistência política porque se excedem e não aceitam medidas de controle, questionam as normas e os lugares a que estariam destinados.
O corpo não aceita as oposições binárias. Desmonta qualquer tentativa de dicotomia. É assim que ele funciona, e é importante sabê-lo para estudar todas as instâncias que o atravessam. “A ideia, em suma, de que o real foge por todos os buracos da malha, sempre demasiadamente larga, das redes binárias da razão” (VIVEIROS DE CASTRO, 2013, p. 17).
O corpo também é produtor de conhecimento e não reconhece demarcações territoriais, sem distinguir instâncias apartadas de dentro e fora. Por isso, entra em cena de maneira contundente quando a questão fundamental é problematizar tudo que se encontra previamente definido e classificado. Os trabalhos colocados em pauta neste artigo estão sintonizados com este processo e o que fazem é explicitar “as possibilidades, o que ainda está por vir, o quase, o entre – esse espaço intervalar que pode produzir outros modos de organização do pensamento (…)” (RAQUEL, 2011, p. 32). Corpos que ativam também redes de resistência política porque se excedem e não aceitam medidas de controle, questionam as normas e os lugares a que estariam destinados.
Pororoca ou redesenhando margens
A Lia Rodrigues Companhia de Dança foi fundada em 1990, na cidade do Rio de Janeiro, e tornou-se referência importante do que se chama dança contemporânea no Brasil. Com inúmeras apresentações em diferentes lugares do mundo em sua trajetória, desde 2004 a sede da companhia está instalada no Complexo da Maré, onde além de desenvolver suas atividades, como aulas, ensaios e trabalho de pesquisa e criação, oferece cursos regulares de dança à comunidade, além da realização de apresentações gratuitas de espetáculos seus e também de convidados. Em 2009, graças à parceria com a Associação Redes de Desenvolvimento da Maré, foi aberto o Centro de Artes da Maré, que abriga a sede da companhia, um ponto de cultura, uma escola livre de dança e um espaço para exibição de filmes. As várias atividades promovidas pelo Centro de Artes têm o intuito de fomentar espaços de debate e sensibilização em relação à arte contemporânea, descentralizando ações artísticas na cidade, num trabalho de formação de artistas e de plateia.
Este projeto teve forte impacto nos processos de criação da Lia Rodrigues Companhia de Dança, não só porque alguns de seus dançarinos foram formados pela Escola de Dança da Maré, como também esse outro modo de viver do ambiente onde está localizada a sede do grupo, passou a contaminar os modos de criação. Assim como o espaço nas construções da Favela da Maré é diminuto – quartos, salas e cozinhas estão muito mais próximos do que a hierarquia entre cômodos e a defesa da individualidade da arquitetura burguesa gostaria –, as pessoas também precisam aprender a viver muito próximas, passarem espremidas por vielas, conviverem com as diferenças, compartilharem o espaço comum da rua que acaba sendo extensão das próprias casas. Aliás, a relação entre público e privado ganha outros contornos neste contexto. Assim também os dançarinos de Lia Rodrigues descobrem outras maneiras de se moverem juntos.
Pororoca (2009), centro de nossa análise aqui, foi o primeiro espetáculo da trilogia sobre a água, composto também por Piracema (2010) e Pindorama (2013) – todos com títulos em palavras de origem tupi – criado para comemorar os 20 anos da companhia. Pororoca é o nome que se dá ao encontro das correntes das águas do mar e do rio em alguns lugares do Norte do Brasil, formando grandes ondas, que chegam a destruir árvores e redesenhar margens, provocando grande barulho antes de estabelecer a calmaria entre as águas. A violência do encontro e a reacomodação às novas condições não deixa de ser uma boa metáfora à própria situação da companhia, que se deslocou para um novo local e foi descobrindo novos modos de existir junto e produzir dança.
Em Pororoca são onze dançarinos em cena, corpos muito diferentes, que se movem juntos quase o tempo todo. Mas eles não formam uma massa homogênea, cada um tem sua singularidade. A diferença e a singularidade, dos corpos e dos movimentos, estão em questão todo o tempo. Fundamental é a ausência de trilha sonora externa à própria sonoridade produzida pelos sons das respirações, dos encontros de um dançarino com o outro, com o chão. A ambientação sonora criada por esses ruídos constantes é entrecortada por pequenos pedaços de canções, algumas vezes reconhecíveis, outras não. O que importa é que são sempre sons sendo produzidos coletivamente, se misturando numa mixagem orgânica. Sobre esse aspecto da criação, Lia Rodrigues comentou em entrevista que o ambiente já era tão barulhento, com muitos sons se misturando, que eles sentiram uma necessidade urgente de não acrescentar nada que viesse “de fora” – o fora já estava dentro, era só deixar ouvir.
No início do espetáculo, em um canto do palco, todos os dançarinos seguram um objeto nas mãos, como cadeiras e peças de roupa. Depois de um tempo em pausa, espalham esses objetos pelo palco, mas se mantém juntos e começam a se mover, barulhentos. Seguram uns nos outros, num jogo de empurrar e puxar, com movimentos amplos, explorando articulações do próprio corpo. Explorando também articulações entre os pares, que vão se constituindo e logo são substituídos por outros – nada se estabiliza por muito tempo. Alguns dançarinos saltam sobre os outros, passam por debaixo das pernas, atração e repulsa entre os corpos. Onde começa a violência? Onde começa o desejo?
Permanecendo juntos e movendo-se quase o tempo todo – há pausas incisivas em alguns momentos, necessárias para recuperar o fôlego, de artistas e espectadores – há que se descobrir espaços, no corpo do outro também, por baixo, por cima, entre. Os dançarinos são como exploradores de diferentes formas de encontro, às vezes colados uns nos outros, às vezes se esparramando uns sobre os outros. São exploradores de corpos, dos próprios e dos outros, mãos que vão percorrendo as quinas, reentrâncias e volumes, uns maiores, outros menores. São formas, cheiros e cores diferentes que vão se contaminando, se delirando. Sobre o espetáculo, Helena Katz, em crítica publicada no jornal O Estado de São Paulo escreveu: “Os corpos explodem, buscam acordos, inventam formas, investem na maneira de se juntar, de lidar com o outro (…)”. O outro gosta do encontro, se ativa na diferença. E de repente, quem é o outro? O outro é quem me olha, quem me toca, e que me faz reconhecer uma outra existência, o outro me faz “entrar em regime de variação” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 21). O antropólogo brasileiro nos lembra que a alteridade sempre faz “desmoronar as mais sólidas muralhas da identidade” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 27), nos dando a chance de se experimentar no não reconhecimento, de olhar sem querer ver o espelho que reflete.
Em Pororoca os corpos dobram-se uns sobre os outros, vão se apoiando, se suportando, testando possibilidades de atravessamento. Os dançarinos parecem querer discernir o alcance dos corpos, o que podem mover juntos, ou, simplesmente, o que podem juntos. É impossível, como espectador, deter-se em apenas um deles, é sempre tudo e todos que vão constituindo essa dança. Vão testando e testando até descobrirem um outro jeito de deslocar o próprio corpo e o corpo do outro.
Há momentos em que os onze dançarinos apresentam-se presos uns aos outros, e mesmo que tentem se “libertar”, permanecem juntos. Aos poucos se soltam, mas se procuram novamente, se arrastando pelo chão, se puxando pelas mãos. É uma corrente, uma rede de vínculos e afetos. Parece não ter nenhuma ordem, mas há uma organização que se estabelece e logo se desmancha para encontrar uma outra, mais propícia ao novo momento. Tudo parece um pouco desmedido. Mas o corpo não se comporta em molduras ou recipientes, não é objeto passivo à espera de uma leitura. Suas práticas geram sentidos e conhecimentos. A perspectiva lançada pela teoria corpomídia (KATZ e GREINER, 2005) colabora na compreensão de como os corpos se constituem em relação com outros corpos e com o ambiente, numa contínua co-evolução entre natureza e cultura.
Pororoca nos lembra da plasticidade de viver junto, das potencialidades do encontro com o outro. Não se trata de manipular o corpo do outro, mesmo que os encontros revelem confrontos e crises. Tratam-se de encontros que permitem, e desejam, a perturbação e a desestabilização como meio de sobreviver. Já no livro “Corpo Artista – estratégias de politização” havia um apontamento que aqui nos interessa também. A ideia de que:
(…) o corpo se politiza na medida em que explicita as singularidades, os espaços abertos a significações em oposição a significados previamente estabelecidos, através da desconstrução das lógicas habituais e dos padrões de movimento. Nesse sentido há uma dilatação do entendimento de corpo e política. O corpo deixa de ser entendido como veículo de uma identidade fechada do sujeito e a política deixa de ser compreendida a partir de sua institucionalização. (RAQUEL, 2011, p. 17)
A lógica tradicional, organizada em pares dicotômicos e separações abissais (SANTOS, 2007) não se sustenta quando o eixo de investigação é o corpo. Quando os dançarinos de Pororoca se encontram, eles não fecham os espaços, nem desmancham as tensões. Ao contrário, abrem fissuras em noções de pertencimento e categorias identitárias. Não é porque se está sempre junto, que se move sem conflitos, que se apagam as diferenças. Não são apenas as afinidades que aproximam, mas as singularidades. Assim, se inviabiliza o achatamento das possibilidades, seja dos movimentos, seja das significações.
Como o fenômeno natural da pororoca vai modificando as margens dos rios quando acontece, também a Pororoca de Lia Rodrigues vai modificando as margens da dança, ressituando quem está dentro e quem está fora, porque essas instâncias nunca estão fixamente separadas, nem em sua coreografia, nem no ambiente onde desenvolve suas criações, nem em lugar nenhum. As margens são imagens presentes em toda sua trilogia das águas, justamente porque remetem à ideia de contornos móveis, que ajudam a imaginar o que está para além deles. A abertura para outras dimensões da política ultrapassa o mero reconhecimento das diferenças. É preciso criar pontos de articulação entre elas, ampliando o campo de experiência e possibilidades. No caso da obra de Lia Rodrigues, esta foi a tarefa que surgiu de maneira mais explícita nos trabalhos que seguiram Pororoca, uma vez que o tempo de exposição na favela foi sendo, pouco a pouco, internalizado na pesquisa.
Parada Serpentina ou corpos em motim
O grupo Espanca!, sediado em Belo Horizonte, MG, foi criado em 2004, tendo como um dos focos de sua pesquisa a problematização dos códigos teatrais. Não por acaso parece ser atravessado por múltiplas linguagens em suas encenações. Além de uma importante trajetória artística, mantém há cinco anos um espaço no baixo centro da cidade, que se tornou referência no ambiente cultural da capital mineira, por oferecer apresentações, oficinas e núcleos de criação
O último trabalho do grupo é a peça Real (2015), batizada inicialmente de Real – uma revista política . Aproveitando o caráter episódico e diverso do teatro de revista, e tratando de um certo anestesiamento diante da vida e suas tragédias cotidianas, o grupo mineiro abordou quatro diferentes acontecimentos recentes de violência: um linchamento, um atropelamento, uma chacina policial e uma greve. Com direção geral de Marcelo Castro e Gustavo Bones, os textos foram escritos por diferentes dramaturgos, e cada pequena peça se mantêm como fragmento, sem buscar nenhuma coesão. Com abordagens e tratamentos estéticos muito diversos são elas: Real – Inquérito, O Todo e as Partes, Maré e Parada Serpentina. É sobre esta última que iremos discorrer.
Parada Serpentina é uma peça curta, de pouco mais de 20 minutos, e foi criada através de estudos do movimento, a partir de provocações textuais de Byron O’Neill. Além dos integrantes do grupo foram convidados artistas de outras linguagens artísticas, como dançarinos, DJs e artistas visuais para compor o elenco de Real .
Parada Serpentina faz lembrar Pororoca no modo de organização da cena. São corpos que buscam o encontro e vão se ajustando a eles, à medida em que há aproximações e distanciamentos. Porém, há um ponto de partida bastante diferente. Uma dramaturgia, que apesar de se mostrar como ambientação sonora mais que em texto, através de uma mixagem de fragmentos de discursos e músicas, vai também tensionando as relações entre os corpos. Diria mesmo que a dramaturgia é uma espécie de acionamento dessa tensão.
Os discursos mixados são oriundos de falas do movimento grevista dos garis no Rio de Janeiro, no carnaval de 2014 – não apenas dos manifestantes, como também dos políticos pouco dispostos à negociação. E é aí que se investe em Parada Serpentina, na negociação. Negociação entendida como mediação, um modo de organizar os corpos, os movimentos e a cena. Um modo em diálogo com a própria condição de se estar no mundo. A partir de uma situação política de evidente disputa, onde relações de poder assimétricas se colocam de maneira explícita, os performers de Espanca! vão instaurando diferentes contextos e tornando visíveis relações diversas daquelas fundamentadas pela lógica da influência, ou pelo determinismo de causa e efeito. Os corpos não refletem o ambiente, vão se configurando com ele. A própria linguagem teatral vai se contaminando por uma lógica coreográfica.
O tema abordado pela peça trata de uma greve histórica, que pressionou o poder público e garantiu vitória, com o alcance de um aumento salarial significativo, num momento cultural em que o mote é a festa e, portanto, um momento de desativação da norma.
No texto Uma fome de boi. Considerações sobre o sábado, a festa e a inoperosidade (2014), Giorgio Agamben argumenta sobre a inoperosidade associando-a à festa. Mas, o que interessa no argumento desenvolvido pelo autor é a desativação da esfera do trabalho e da atividade produtiva que ocorre quando se define a inoperosidade como um modo particular de agir. A dificuldade de acionar a inoperosidade está vinculada à dificuldade de desenvolver qualquer atividade sem que ela esteja destinada a um objetivo, como acontece nos comportamentos festivos, por exemplo. De acordo com Agamben, nas festas a realização e o repouso são coincidentes.
A festa não é definida por aquilo que nela não se faz, mas, muito mais, pelo fato daquilo que se faz – que em si não é diferente do que se realiza todos os dias –, que vem des-feito, tornado inoperoso, liberto e suspenso pela sua ‘economia’, pelas razões e pelos objetivos que o definem nos dias úteis (o não fazer é, nesse sentido, só um caso extremo dessa suspensão). (AGAMBEN, 2014, p. 160)
O elemento suspensivo é o que o autor deseja destacar em tal analogia, o desatrelar de uma relação econômica com os atos e gestos. Tal suspensão não significa o deslocamento a uma esfera mais elevada, mas, simplesmente, uma exibição de sua total inutilidade, a transformação em possibilidades inesperadas dos atos e gestos. A utilidade e a finalidade são ordenamentos da razão econômica, que regem também a razão política na sociedade capitalista. Quando Agamben apresenta a festa como uma possibilidade de fraturar a lógica da mercadoria, que tem ocupado toda a vida social e regido a organização do tempo, do espaço, da percepção e da experiência, abre espaço para pensar sobre uma nova política, liberta do caráter operativo.
A paralisação do trabalho dos garis num período festivo só fez emergir com mais força a relação com a verdadeira obsessão pela produtividade e eficiência que se vê na contemporaneidade. Quando as relações de trabalho são desativadas até mesmo por aqueles que não deveriam nunca parar de funcionar, faz-se a festa, que torna inoperosos os gestos e as ações humanas. Desse mote parece se levantar o trabalho em Parada Serpentina. E é por isso que os corpos precisam dançar no teatro de Espanca!, “(…) mas o que é a dança senão a libertação do corpo de seus movimentos utilitários, exibição dos gestos na sua pura inoperosidade?” (AGAMBEN, 2014, p. 161).
O prefeito carioca, à época, qualificou a greve dos garis como um motim – palavra repetida insistentemente na mixagem sonora em um dos momentos da peça. Motim, substantivo masculino que significa insurreição contra autoridades instituídas, caracterizada por atos de desobediência e não cumprimento dos deveres. Se há algo que escapa à ordem, são os corpos em performance de Parada Serpentina. Corpos em motim, que escorregam festivamente pelos espaços.
É num grande estrondo sonoro que os atores, uns sobre os outros, se espalham pelo palco e vão tentando se reagrupar, sempre explorando os níveis baixo e médio, fora do campo de visão da alta hierarquia. São os corpos descobrindo maneiras de se organizar juntos, encaixando quadris, pernas e braços. E juntos vão se movendo em rotação, atravessando o palco de um lado ao outro, enquanto ouvimos o canto coral dos garis grevistas.
Toda a encenação organiza-se na relação entre os corpos e na composição do espaço. O texto não está na boca dos atores, mas está lá sonoramente constituído como uma coleção de informações que também vai compondo o contexto cultural no qual as ideias se movem. Uma peça de teatro não como coreografia, mas como atravessamento de uma lógica coreográfica, pois sua capacidade de articulação do pensamento se dá no corpo em tensão com os outros elementos teatrais.
Não há forças capazes de controlar aqueles corpos que perturbam o espaço com sua “bagunça”, seu “desacato”, sua “desordem”. A metáfora política emerge com força de um texto que não está elaborado em palavras. A festa carnavalesca prejudicada pelo lixo espalhado nas ruas do Rio de Janeiro vira ponto de ignição para uma festa no palco. E do amontoado festivo em cena emerge um ator excessivamente magro, aparentemente frágil, mas que ainda pode, pode inclusive não fazer, e continuar assim exercendo toda a sua potência.
A esfera do trabalho e da atividade produtiva são abandonadas, e presenciamos o ir e vir de corpos, que se encaixam e desencaixam como numa grande brincadeira, conferindo uma nova dimensão ao que se estabelece em cena. Movimentos acionando pensamentos, afetando toda a relação com o entorno, com os outros corpos, com o público. Uma cena liberada do compromisso com os códigos teatrais e ao mesmo tempo com qualquer técnica corporal da dança. Corpos que se abrem e se dispõem a novos usos, entre o singular e o comum (AGAMBEN, 2007), fazendo do experimento da cena também um exercício de imaginação política.
Estratégias para (con)viver
Arte e política podem ser tidas como atividades constitutivas uma da outra, como nos lembra André Lepecki (2012), retomando ideias de Jacques Rancière e Giorgio Agamben. Lepecki propõe a dança “como uma epistemologia ativa da política em contexto” (2012, p. 46). Ao desenvolver esta ideia, o foco se dá na relação entre dança e cidade, mas há no seu desenvolvimento a retomada de algo já problematizado por Agamben, que é a diferença entre fazer e agir, ao falar do gesto como algo inerentemente político. Esta diferença é tratada em um breve e complexo ensaio, publicado originalmente em 1996, na Itália.
Agamben afirma que o gesto é a comunicação de uma comunicabilidade. Para ele, o gesto não tem propriamente um significado pronto, trazendo sempre o caráter de uma possibilidade. Assim, o gesto poderia ser tomado como a exibição de uma mediação, um meio que não possui outra finalidade que sua própria aparição, distinguindo-se do fazer – um meio com vistas a um fim – e também do agir – um fim na ausência de um meio. O gesto apresenta-se entre a pura possibilidade e a sua atualização.
Como também lembra o autor italiano, a política é a esfera dos meios puros. Então, se o gesto é a exibição de uma mediação pura e sem fim, não há como entendê-lo fora do campo da política (AGAMBEN, 2008). O gesto que mantém abertas as possibilidades, afirma sua potência política ao exercitar as singularidades, dando visibilidade a algo que ainda não estava previamente determinado e desestabilizando hábitos.
O corpo é a instância que articula todos esses sentidos, ocupa os espaços numa relação co-evolutiva e vai transformando tudo ao redor. Nem todo movimento é político. Mas há um modo de pensar sobre a prática artística e política, que coloca o movimento no centro do debate. Assim acontece nos trabalhos analisados. Entendidos como coreografia ou fenômeno teatral, o corpo é o signo em expansão, que aponta para outras realidades possíveis, ao testar procedimentos que perturbam os significados de estar junto e torna visível a condição de instabilidade do encontro.
O próprio regime de visibilidade e invisibilidade parece entrar em questão em Pororoca e Parada Serpentina, explicitando certas relações em cena, mas também nos lançando para fora dela, para a realidade com a qual dialogam. No entanto, não se trata de uma tradução de um discurso único, que aponta para uma só direção. Trata-se de escapar do fechamento e fazer adensar as conexões.
Os corpos mudam o tempo todo sua direção no palco e surpreendem a todo instante com movimentos e novos encontros. Assim, mudam também o pensamento, apresentando uma multiplicidade de modos de estar junto, com os deslocamentos nos modos de significação – os sentidos não estão fechados na “leitura” de um gesto ou movimento. Um abraço pode ser um encontro de paixão e desejo, mas também pode se transformar rapidamente num processo de repulsa e tentativa de se livrar do outro.
É o estado de mudança ininterrupta que se torna o modo de conhecer, o modo de se relacionar, de ativar a imaginação e de fazer política.
Referências Bibliográficas
>LIVROS
AGAMBEN, Giorgio. Elogio da Profanação. In: Profanações. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 65-79
__________ Nudez. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2014.
KATZ, Helena e GREINER, Christine. Por uma Teoria do Corpomídia. In: O Corpo – pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. p. 125-133.
RAQUEL, Fernanda. Corpo artista – estratégias de politização. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2011.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
__________ Metafísicas Canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
>ARTIGOS DE JORNAL
KATZ, Helena. Pororoca que arrasta para o universo de Rosa. In: O Estado de São Paulo, Caderno 2, 05 de abril de 2010.
__________ Lia Rodrigues faz Pororoca na França. In: O Estado de São Paulo, Caderno 2, D13, 17 de novembro de 2009.
>PUBLICAÇÃO ONLINE – INTERNET
AGAMBEN, Giorgio. Notas sobre o gesto. In: Artefilosofia, Ouro Preto, n. 04, jan. 2008, p. 09-16. Disponível em: < http://www.raf.ifac.ufop.br/ pdf/artefilosofia_04/artefilosofia_04_00_iniciais_sumario_editorial_ notas.pdf> Acesso em 20 jan. 2015.
BIDENT, Christophe. O Teatro Atravessado. In: ARJ, Brasil, v. 03, n. 01, jun./jul. 2016, p. 50-64. Disponível em: http://periodicos.ufrn.br/ artresearchjournal/article/view/8504/6807 Acesso em 20 jun. 2016.
LEPECKI, Andre. Coreo-política e coreo-polícia. In: Ilha – Revista de Antropologia, UFSC, Florianópolis/SC, v. 13, n.1,2, 2011, p. 41- 60. Disponível em: Acesso em 21jun. 2016.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para Além do Pensamento Abissal – das linhas globais a uma ecologia de saberes. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 78, outubro 2007, p. 3-46. Disponível em: . Acesso em: 30 jul. 2008.
VIOLENTAMENTE POÉTICO, de Soraia Belusi
publicado no site Horizonte da Cena em janeiro de 2016
Há sempre uma tensão entre a realidade e a ficção no teatro, quaisquer sejam os lugares e o tempo em que ele se concretiza. Tal tensionamento, conforme a teórica Erika Fischer-Lichte, permitiu ao longo da história, e mais potencialmente na cena contemporânea, uma série de transgressões entre o que entendemos pelo real e pelo fictício. O novo trabalho do Espanca!, que estreou em dezembro de 2015, evidencia esse embate entre vida e arte e propõe uma experiência teatral que afete o espectador anestesiado no cotidiano.
A realidade não é só o tema de “Real – Teatro de Revista Política”. Ela invade a cena, o processo, o espetáculo. Não são atores que se apresentam primeiramente ao público, mas sim a produtora Aline Vila Real, que compartilha com o público as condições com as quais o grupo teve que lidar durante o percurso criativo da obra. Uma realidade que eles não esperavam nunca ter que lidar; embora a vida real sempre estivesse bem pertinho deles, ali, no centro da cidade, do outro lado da porta. De alguma maneira, é disso que também fala todo o trabalho, e a ficção então se apresenta como única possibilidade de existência para aquilo que consideramos não existir mais.
Ao longo de sua trajetória, o coletivo mineiro busca em seus trabalhos desenvolver o que eles conceituam como “poética da violência”. Mais do que responder a esse conceito, me proponho a refletir o que ele nos pergunta como espectadores. Como afetar o espectador? Como traduzir o horror da realidade em uma experiência equivalente em sua potência na ficção? Como gerar uma obra em que esses dois elementos, poética e violência, tenham certa comunhão? “Real” nos responde a isso não na teoria, mas na relação que estabelece com os fatos que lhe serviram de pontapé inicial e com as linguagens criadas pelos dramaturgos que assinam os textos das quatro peças curtas que compõem o programa: “Inquérito”, de Diogo Liberano, “O Todo e as Partes”, de Roberto Alvim, “Parada Serpentina”, a partir de texto de Byron O’Neill, e “Maré”, com dramaturgia de Marcio Abreu.
É como se os textos fortalecessem a poética que acompanha a trajetória do grupo, assim como a encenação potencializa as linguagens que levam as assinaturas dos dramaturgos. “Inquérito” funciona como síntese/cartão de visitas à proposta de “Real”. Diogo Liberano volta à estrutura familiar, que caracteriza “Sinfonia Sonho”, para lidar com aquilo que não tem explicação, e constrói uma dramaturgia que cria diferentes planos ficcionais, como se houvesse a possibilidade de criar furos na ficção para que outra ficção dialogasse com ela. Quem fala diretamente ao público é o personagem mais irreal da cena, a mãe morta, a fantasma de Fabiane Maria de Jesus, mulher que foi espancada e linchada até a morte após ser confundida com uma sequestradora de crianças para cultos religiosos.
“Isso aqui é teatro”, nos alerta a personagem, interpretada por Gláucia Vandeveld, que parece nos lembrar, por meio de sua atuação, o caráter ficcional de sua Fabiane. É justamente um fantasma – quer algo mais não real que uma assombração? – que se dirige ao espectador. O caráter irreal é reforçado pela maquiagem, pelo caminhar de Glaucia, pelas brincadeiras com o cobertor, pelo tom quase canastrão com que o fantasma é construído. Tudo isso só potencializa o tensionamento entre real e ficção, desaguando no momento em que a fantasma nos recorda que Fabiane, este sim, é um nome real.
Esse furo na ficção, que sobrepõe outra camada ficcional, se dá em cenas como as simulações de linchamento feitas pelos personagens, quando seres que estão extracampo, fora da cena, invadem o espaço real da cena para incentivar e/ou apartar o ato violento.
A encenação assinada por Gustavo Bones enfatiza o constante deslocamento entre corpo real e corpo fenomenal, como caracteriza Erika Fischer-Lichte, à medida que dois atores homens interpretam duas meninas ainda crianças, sem para isso mudarem o tom de voz ou a movimentação corporal. Mais uma vez, encontramos nesta dramaturgia referências que podem estar conectadas a “Sinfonia Sonho”, como o jogo como uma saída lúdica para tratar daquilo que não somos capazes, e a inversão de papéis entre crianças e adultos, estes muito mais infantilizados e escapistas que os primeiros.
Em “O Todo e as Partes” o que entra em discussão é o nosso conceito de justiça. O “drama” da primeira peça curta cede lugar à construção de um jogo de duplos opostos, em que não são mais os indivíduos e as relações pessoais que estão no centro da ação, mas justamente a relação entre eles e a sociedade, entre seus atos e seus desdobramentos. A princípio, me parecia o maior desafio para o Espanca! traduzir, à sua maneira, a poética singular proposta por Roberto Alvim em suas obras. Um universo que, aparentemente, se contrapunha às premissas até então trabalhadas pelo grupo mineiro. Mas, assim como em “Inquérito”, esse encontro parece potencializar ambas as poéticas.
O convite a Eduardo Félix, criador e diretor do Pigmaleão Escultura que Mexe, me parece a grande virada para que tais mundos artísticos encontrassem um diálogo possível e potente. À sua maneira, o encenador conseguiu criar um tempo e um espaço que fogem das referências realistas, assim como seres transfigurados, quase inumanos, o que se vê com mais ênfase no ser deformado, meio boneco meio gente, da criatura interpretada por Gustavo Bones – espécie de juiz-voz suprema. O que se vê é um mundo de escuridão, em que os atos não têm motivos aparentes, em que não cabe mais a lógica de causa e consequência. Uma sociedade em que as coisas são assim porque são, e assim continuarão sendo.
Alvim teve como inspiração para seu texto o atropelamento de um jovem que teve seu braço arrancado no acidente, membro que depois foi arremessado na água. É o braço arrancado, com vida e desejos próprios, o verdadeiro personagem da dramaturgia criada pelo artista carioca radicado em São Paulo. Independentemente das escolhas técnicas e de manipulação feitas por Eduardo Félix, algumas das quais poderia criticamente questionar – como a excessiva demonstração da artificialidade do braço e, consequentemente, do próprio ato teatral –, o que busco ressaltar aqui é que a pertinência das opções conceituais diante do material textual a ele oferecido para a construção espetacular.
“Parada serpentina” materializa um desejo antigo do grupo mineiro: criar um espetáculo cuja linguagem referencial fosse a dança contemporânea – que já aparece, em maior ou menor proporção, em outros trabalhos do grupo, entre eles, “Congresso Internacional do Medo”.
Em seu texto “Coreopolícia e Coreopolítica”, o pesquisador André Lepecki, a partir da reflexão sobre a relação entre o estético e o político, os corpos e a cidade, propõe a noção de coreopolítica, na qual, de maneira extremamente resumida, poderíamos entender como a capacidade que a coreografia tem de ser usada “simultaneamente como prática política e um enquadramento teórico que mapeia performances de mobilidade e mobilização em espaços urbanos de contestação”.
A proposta não é encaixar a criação do Espanca! em uma definição/conceituação, mas utilizar esse referencial teórico para com ela dialogar, pensando “Parada Serpentina” como uma performance que compartilha com a política as características de efemeridade, precariedade, de sua ação final ser idêntico ao próprio processo, de não ser uma metáfora do político, mas uma forma de se pensar a relação estético-política.
É o urbano, a polis contemporânea, o material e o fim da coreo-política. “Parada Serpentina”, a partir dos seus modos de composição, busca refletir sobre a relação entre os corpos e a cidade, as forças de poder nela inserida. Uma revolução dos e pelos corpos, em que a carnavalização e motins/montinhos são formas de desestabilizar, problematizar e reconfigurar o urbano e seus sujeitos. A praia da Estação, o Carnaval de rua de Belo Horizonte, a batalha do passinho, experiências estético-políticas que se dão a ver na capital mineira ali na vizinhança do Espanca!, são rearranjadas na composição coreográfica de “Parada Serpentina”, um manifesto político que tem o corpo como via e como destino.
Em “Maré”, Marcio Abreu ofereceu ao grupo mineiro um material caracterizado por uma textualidade performativa, em que as possibilidade de organização espetacular são múltiplas, numa tessitura de vozes, tempos e espaços capazes de explodir a percepção do leitor/espectador.
“Maré” é música. É fluxo. Rima. Melodia. Ação verbal. Rap. Pode ser pagode, quase bolero. É material textual de caráter performativo. As palavras são imagens. Vemos quando escutamos. Estouro. São várias vozes em uma fala. É ao mesmo tempo close e panorâmica. É narração, mas é tragédia. Familiar e social. Fato e ficção. Som no espaço. Estouro. É tempo expandido, espaço reduzido. Entre o privado e o público. O dentro e o fora da porta de casa. O caminho entre um ponto e outro. É Marcio Abreu, mas muito Espanca!. Um encontro entre o material dramatúrgico equivalente à potência para encená-los, criando, sem dúvidas, uma de suas obras mais violentamente poéticas, daquelas que espancam, mas não são mais tão doces assim.
SORAIA BELUSI é jornalista, crítica e pesquisadora teatral. Mestre em Artes na UFMG
TRAÇOS DO REAL – UM BREVE “DOSSIÊ GENÉTICO” SOBRE A NOVA CRIAÇÃO DO ESPANCA!, de Soraya Belusi
publicado no Dossiê Espanca do site Horizonte da Cena em setembro de 2015
“O ensaio é o lugar da frustração, do fracasso, do mau gosto, da ignorância e dos clichês. Mas é também o espaço do mergulho, do aprofundamento, do vislumbre de horizontes possíveis, da descoberta de ilhas incomunicáveis, de países sem continente, de territórios sem fronteiras e, por outro lado, territórios demarcados demais, conhecidos demais, explorados à exaustão. Terra de ninguém, terra de litígio, terra à vista, terra submersa. (ARAÚJO, 2011, p. 3)
Centro da cidade. 14 horas. Uma segunda-feira. A realidade pulsa do lado de fora. O fluxo dos corpos (físicos e máquinas) parece adentrar o interior. Cinco pessoas pelo espaço. Aquecimento, aula, brincadeira? Jogo, trocas, uma galinha pintadinha. Não pode deixar cair ou o destino de todos será o chão. Contorções de uma minhoca, apelidada de Minhoca Jackson. Invenção do Xande. “Tem que ter esse momento, hein?”, afirma alguém. Mas, por enquanto, tudo isso é só ensaio. Tudo é apenas possibilidade. E isso é muita coisa.
E nem mesmo o Espanca!, em plena ebulição de seu processo, sabe aonde de fato vai chegar. Um processo que, na verdade, engloba cinco. Para a realização de “REAL – Uma Revista Política”, o grupo enviou cinco fatos políticos que marcaram a sociedade brasileira nos últimos tempos como disparadores criativos para cinco dramaturgos de linguagens estéticas radicalmente diferentes. Cada um deles respondeu com um texto teatral curto, reunidos numa espécie de revista que pretende suscitar reflexões sobre o Brasil.
Um real que já nasce polifônico, múltiplo em suas vozes, que se constrói fragmentado por partes autônomas entre si e ao mesmo tempo conectadas a um todo maior, escrituras cênicas que buscam uma maneira de “realizar o real através do teatro”, como diz o texto assinado pelo próprio grupo no site do projeto.
A dimensão processual, embora intrínseca ao fazer teatral, encontra nas criações compartilhadas o ambiente ideal para sua evidenciação. E, neste tipo de procedimento contemporâneo, por sua própria natureza múltipla e inacabada, como enfatiza a teórica Josette Féral em alguns de seus artigos, os traços do percurso tendem a vazar para a obra, serem não só fundantes como perceptíveis ao espectador no resultado final[1].
Silvia Fernandes identifica essa dimensão processual na encenação e dramaturgia contemporâneas que, segundo ela, criam “zonas incertas de performatividade”, procedimento identificado na forma de cenas breves, episódicas, semelhantes a workshops improvisados, que “parecem indicar a precariedade do trabalho e o emprego informal à beira da dissolução” (FERNANDES, 2013, p. 416). Neste caso, tem-se a dimensão de que é impossível dissociar o processo de criação da obra que dele resulta, assim como eliminar da obra, supostamente acabada, os resíduos do processo que encontram eco em sua estrutura. Por esta visão, estas obras carregam em si mesmas uma espécie de mapa do percurso que percorreram até ali, um “dossiê genético”, podendo ser consideradas “o documento vivo de uma cena que registra seu próprio processo criativo”. (FERNANDES, 2013, p. 417).
O que se pretende com esse texto é, a partir da leitura dos registros de processo de criação compartilhados na web, aliada à observação em sala de ensaio[2], estabelecer conexões entre materiais levantados até este momento do percurso, procurando evidenciar caminhos e escolhas formais que vêm sendo adotados e cujos rastros se farão notar na obra final – considerando aqui o caráter processual do próprio espetáculo, este, também, in progress. O objetivo é, a partir das primeiras impressões colhidas no contato com a gestação da obra em sala de ensaio, buscar evidências nos próprios registros do coletivo de artistas de quando e como tais escolhas foram se agregando ao processo.
O PROJETO – PONTO DE PARTIDA
É praticamente impossível não se contaminar pela realidade que insiste em se apresentar do lado de fora. Localizada na rua Aarão Reis, no coração do centro de Belo Horizonte, a sede do Espanca!, assim como seus integrantes, foi testemunha e personagem de importantes fatos recentes que tomaram a capital mineira: desde as manifestações de 2013 até os encontros noturnos do Duelo de MC’s, passando pela noite agitada dos bares do entorno ou o simples vai e vem incessante dos ônibus que levam para muito longe. O Espanca! está mergulhado em realidade.
Não surpreende, nesse sentido, o interesse do grupo em dialogar com fatos verídicos de grande impacto na sociedade brasileira – seja pelo horror e violência contidos neles, seja pelo desinteresse com que foram tratados pelas autoridades.
O primeiro “exemplar” desta guinada do grupo foi a cena curta “Onde Está o Amarildo?”, que já buscava, como define o coletivo no texto sobre o projeto “REAL”, um diálogo com a realidade por meio de uma “poética da violência”. Tanto aqui como lá, não se trata de reproduzir o real, mas de realizá-lo, de construir uma linguagem de potência tal que seja capaz de restabelecer um vínculo entre quem faz e quem vê de maneira a desestabilizar a própria noção de real.
Assim, o grupo convidou cinco autores expoentes da dramaturgia contemporânea para, a partir de suas próprias poéticas, se apropriarem de fatos reais para construir uma realidade outra, esta teatral. Dessa forma, a greve dos garis no Rio de Janeiro, durante o Carnaval de 2014, ganhou a leitura de Byron O’Neill (MG), enquanto o linchamento de Fabiane Maria de Jesus, em São Paulo, foi reelaborado pela escrita de Diogo Liberano (RJ). A chacina policial no complexo da Maré, que ocorreu durante as “Jornadas de Junho”, foi mote para Marcio Abreu (PR). A carta de suicídio dos índios Guarani-Kaiowá está impressa no texto de Leonardo Moreira (SP) e o atropelamento do ciclista David Santos Souza, que teve o braço arrancado na avenida Paulista, foi o fato entregue a Roberto Alvim (RJ/SP).
O formato que inspira a realização do projeto é o Teatro de Revista, cuja função no início do século passado era “passar em revista” os fatos políticos da época, utilizando para isso números e esquetes autônomos, independentes, descolados um dos outros.
PROCEDIMENTOS COLABORATIVOS
Embora tenha como ponto de partida para a criação um texto “encomendado”, não podemos afirmar que o Espanca! tenha aberto mão de criar uma dramaturgia em processo. Isso porque, mais que montar os textos recebidos, o grupo tem se proposto a dialogar criativamente com o material recebido, de forma a transformá-los, reinterpretá-los, descontruí-los. Dessa maneira, preserva-se o caráter indefinido da obra a ser levada para o palco, um universo que só se constrói em sala de ensaio.
O perfil colaborativo da criação no Espanca! permanece e, talvez pela própria natureza do projeto REAL, ganha contornos ainda mais evidentes. Isso se dá pela condução que Gustavo Bones e Marcelo Castro propõem à construção do espetáculo com a chegada de novos colaboradores ao grupo – Allyson Amaral, Leandro Belilo e Karina Collaço –, além da continuação da parceria com Alexandre de Sena, Assis Benevenuto e Glaucia Vandeveld. Todos têm papel propositivo na criação de REAL, responsabilidades estas que não foram previamente definidas, mas estabelecidas no percurso.
Somente no décimo primeiro registro do processo é que aparece uma primeira divisão de tarefas e funções, partilha de responsabilidades que evidenciam seu caráter compartilhado, horizontal e polifônico.
O TODO E AS PARTES (texto do Alvim)
Coordenação: Sara
Atores: Gustavo (velho), Assis (homem), Xande (jovem)
Coreografia: Leandro (o braço)
Encontros: 2ª e 3ª
IDEIAS:
– os personagens Homem e Jovem serem bonecos
– experimentar o Velho como coro
– Leandro fará uma “coreografia para o braço”
INQUÉRITO (texto do Diogo)
Coordenação: Assis e Gustavo
Atores: Glaucia (Fantasma), Xande (Pai), Allyson (Yasmin), Assis (Esther)
Coreografia: Leandro (o espancamento)
Encontros: 5ª
IDEIAS:
– 3 homens farão pai e filhas.
– experimentar os “jogos de violência” propostos no texto
MARÉ (texto do Márcio)
Coordenação: Xande e Marcelo
Atores: Xande (Homem), Glaucia (Vó), Sara (Mulher), Allyson (Criança), Leandro (Criança), Prof (Criança)
Coreografia: Allyson (perna de pau e orixás)
Encontros: 4ª e 6ª
IDEIAS:
– experimentar um coro de crianças
– cenário “apertado”, espaço pequeno
COLIBRI (texto do Léo)
Coordenação: Marcelo e Assis
Atores: Gustavo, Sara, Marcelo
Encontros: 2ª e 3ª
IDEIAS:
– ver o vídeo que ele mandou junto com o texto
GARIS (texto do Byron, coreografia do nosso “núcleo da dança”)
Coordenação Coreográfica: Prof, Leandro e Allyson
Atores: todXs!!!!!!!
Encontros: 4ª e 6ª
IDEIAS:
– combinamos de criar uma coreografia e o texto final surgir junto com ela. Byron vai acompanhar o processo pelo menos até mês que vem.
Neste mesmo post, evidencia-se o processo colaborativo em um recado destinado a Glaucia Vandeveld, em que ela estaria fazendo parte do elenco de duas peças, mas que, na verdade, estava tudo aberto e ela poderia ficar à vontade para se jogar. E, de fato, desde então, algumas coisas se alteraram bastante nessa divisão de funções, tendo a saída de Sara Pinheiro do processo e a chegada de Eduardo Félix, do grupo Pigmalião Escultura que Mexe, à equipe de criação, entre outras modificações.
A própria condução do processo, a maneira de ele se dar, ganha novas complexidades neste trabalho do Espanca!. Trata-se da construção de uma obra que contém cinco outras obras, a priori, independentes, lançando questões de como se colocar artisticamente diante de cada uma delas, o que se percebe neste registro sobre a primeira semana de ensaios: “ainda estamos entendendo o funcionamento desse cronograma. A sensação é estranha, é difícil ensaiar 5 peças ao mesmo tempo. Talvez experimentar períodos maiores pra cada proposta seja interessante.”
Ao longo do processo, a opção do grupo tem sido olhar para cada texto não como algo pronto para ser transposto para o palco, mas sim como criaturas que ainda não estão completamente constituídas.
MONSTRENGOS
A esta altura do processo de criação, ainda não há algo que esteja pronto, fixado, formatado. O que existem são, segundo os integrantes do grupo, pequenos “monstrengos”, materiais criados a partir do confronto com o material dramatúrgico que ainda estão sendo experimentados.
Alguns estão mais encorpados que outros, o que se faz perceber não só na sala de ensaio, como pela ausência de registros mais específicos sobre eles – é o caso de “Colibri”, sobre o qual constam pouquíssimos relatos no site do projeto, e também “O Todo e as Partes”, do qual ainda se encontram mais informações, como vídeos sobre a estética dos bonecos e algumas proposições de Eduardo Félix para a encenação.
O primeiro monstrengo foi o de “Inquérito”, escrito por Diogo Liberano. O próprio autor, em seu processo de criação, utiliza-se da linguagem que propõe no texto, quando afirma no registro “O Posicionamento da Linguagem”, que “diariamente eu pergunto e respondo. Ou só pergunto. Ou só respondo”.
Um jogo de crianças, inofensivo, de perguntas e respostas é a estrutura formal escolhida por Liberano para lançar seu olhar sobre a história de Fabiana Maria de Jesus, uma mulher que foi linchada e morta após ser confundida com uma sequestradora de crianças que seriam usadas em rituais de magia negra. A saída encontrada pelo dramaturgo foi lançar um olhar para a família, para quem sobreviveu, para a pergunta de como se continua apesar de. Assim como em “Sinfonia Sonho”, seu primeiro trabalho com sua companhia Inominável, o jogo infantil é a forma de se buscar uma cena que “ao invés de um retrato do real, apostou numa composição inventada para tentar dar conta daquilo que, em vida, eu não havia conseguido realizar”.
E é o teatro como possibilidade o que nos apresenta Liberano: possibilidade de sermos sinceros, de coabitarmos um espaço-tempo único, de não encontramos respostas para o que é intolerável, mas onde se pode sempre perguntar. “Inquérito” articula esses dois planos da ficção e do real. No plano ficcional, uma família que insiste em seguir adiante, em que o pai e as duas filhas tentam compreender o incompreensível a partir de uma simples pergunta: “por que mataram a mamãe?”. De outro lado, a realidade (esta também teatral) da morta que narra sua própria história. Esta, ao falar diretamente ao espectador, tensiona o papel deste em relação à violência e ao horror que testemunha.
A cena está sendo construída com Alexandre de Sena como pai, Assis Benevenuto e Marcelo Castro como as duas filhas, e Glaucia Vandeveld como a mãe morta. No ensaio observado, trechos de momentos diferentes do texto foram compilados de forma a criar uma microcena, que estava sendo experimentada pelos atores. Nela, um sofá ocupa o centro do espaço. Vê-se pai e filha sentados, a menor no colo deles. Eles começam uma conversa banal, até que se propõe um jogo.
Não há na atuação um desejo de se aproximar realisticamente dos tipos propostos, o que poderia fazer com que Assis e Marcelo buscassem uma voz infantil e feminina para suas personagens, já que se trata de duas meninas. O teatro como ficção/invenção é assumido e reafirmado.
Em determinado momento da cena – cujos detalhes omito para não retirar-lhes o prazer da surpresa –, a realidade ficcional construída pela relação familiar é interrompida por personagens que invadem a cena, como se saltassem do mundo real para a ficção, tensionando ainda mais esses dois planos. A violência aqui se torna linguagem, ou como define Liberano, “um ato de terrorismo”.
O CORPO: “O TEXTO DOS GARIS VIROU DANÇA!”
Ainda sob a perspectiva de que o processual também transborda de uma obra para outra na construção de um percurso artístico, sendo cada novo trabalho também carregado de heranças do DNA dos anteriores, é necessário evidenciar que não é recente a relação do Espanca! com o movimento. O tai-chi-chuan e o caratê de Por Elise, o sapateado de Amores Surdos, os peixes de Marise Dinis e Sérgio Penna, além da presença da bailarina Izabel Stewart em Congresso Internacional do Medo.
Em entrevista concedida ao Horizonte da Cena ainda em 2013, Gustavo Bones e Marcelo Castro já afirmavam um desejo de diálogo, que sempre existiu em outros moldes, com artistas da dança[3].
Gustavo Bones: Antes de você chegar, estávamos aqui com uma lista imensa de vontades (risos). Com certeza surgem questões artísticas que queremos trabalhar.
Marcelo Castro: Tem um projeto que a gente já tem vontade há muito tempo, que integrou nossa pesquisa nesses dois anos de patrocínio da Petrobras, de criar um espetáculo de dança, inclusive fizemos aulas regularmente…
Gustavo Bones: Criamos “Por Elise” no estúdio da Dudude (Herrmann); no “Amores Surdos” nós sapateamos; no “Congresso Internacional do Medo” tinha o Serginho (Sérgio Pena), a Marise (Dinis) e a Izabel Stewart; depois veio “Marcha para Zenturo”, que tinha um estudo mais do View Points; e várias outras experiências de aula e oficinas. Estamos tentando executar esse projeto há um bom tempo. A gente quer fazer um estudo com cinco coreógrafos brasileiros e que isso gere um espetáculo nosso.
Marcelo Castro: Isso já gera uma outra rota, uma peça que parte de outro lugar, não mais da palavra, mas do corpo.
Essa aproximação já anunciada com os elementos da dança se faz presente em “REAL” de forma evidente com a chegada ao grupo dos bailarinos Allyson Amaral, Leandro Belilo e Karina Collaço, mas também na maneira como o processo se faz conduzir, em um confronto de linguagens entre a palavra e o corpo.
É o corpo o primeiro elemento a surgir no processo. Nos registros realizados pelo grupo, já no segundo documento compartilhado, é ele quem está em evidência no vídeo de apenas 50 segundos. Trata-se de um workshop, do qual registrou-se um momento do qual faço a descrição: Dois dedinhos a atravessar o espaço. Corpos na parede, parados. Invadem o espaço, adentram, furam. Um jogo de manipulação, pelo pescoço, contato-improvisação, repetição dos gestos do outro.
Outro registro que aparece na sequência e já se torna potencialmente incorporado ao processo, e consequentemente à obra que se desenvolve, é a “Batalha do Passinho”[4]. O post de um gari performando para os colegas aparece ainda nas etapas iniciais da criação e, no ensaio observado, ocupou boa parte das atividades coordenadas por Leandro Belilo, em que todos os participantes dançam juntos o “Passinho do Romano”.
“Anos de teatro para fazer isso”, brinca um dos integrantes do grupo durante a coreografia. “Você se sente um gringo. É triste isso, né?”, constata Assis Benevenuto, diante da falta de suingue para cumprir a missão. “Talvez nem saia coreografia, mas o corpo já está com essas informações impregnadas”, nos lembra Leandro do caráter de processo.
“O texto dos garis virou dança”, explica-me Marcelo, dando um indício de para onde apontam algumas das escolhas do grupo na relação com o texto escrito por Byron O’Neill sobre a greve dos garis que “parou” a cidade do Rio de Janeiro em pleno Carnaval. O fluxo dos corpos reais que cruzam as metrópoles está ganhando uma leitura performativa, no qual é o corpo é não apenas suporte, mas linguagem.
Isso se faz evidente no roteiro que vem sendo construído durante o processo. O texto virou ação:
Roteiro do Garis
Bloco 1
Xande no microfone – discursando (improvisando) marchinhas de protesto, palavras de ordem e de cartazes da greve dos garis;
– Corpos que transitam
– Corpo lixo (abandonados) – corpos em queda livre (corpo madeira) no espaço.
– Corpo que se joga – desconstrução e construção do corpo/ de que forma você se levanta, de que forma você se recupera
– Corpo lançado – pegadas (lança para se agarrar), suporte ( escaladas no corpo), ser levantado pelo todo
– Corpo abafado
Bloco 2
Jogo do 7 ( rua1,…rua7) – criação do Corpo Estamira
Bloco 3
Coreografia do Caminhão da Estamira
Este mesmo roteiro vai ganhando corpo ao longo do processo. Em documento compartilhado após o dia 7 de agosto, os “buracos” presentes em cada bloco vão sendo preenchidos com informações mais claras e específicas no que se refere aos textos e ações a serem executados. Onde antes se lia “improvisando palavras de ordem”, neste momento já ganha a forma de frases como “Vendendo almoço pra comprar janta”; “salário de cachorro”; “Não tem arrego”; “Tá enganando trabalhador”; “Tem meus filhos pra criar”; “Os turistas vão andar no lixo”; “Cuidamos da cidade! Quem cuida da gente?”; “Só queremos os nossos direitos”; “Deixa passar a revolta popular”; “Pacífico, ordeiro”; “Direito que é direito”; “Vergonha Vergonha Vergonha”.
Outra informação processual que aparece neste registro é a utilização de objetos, como na seguinte descrição:
Objetos (7 objetos escolhidos por cada um) espalhados pelo espaço. Em cada mudança de rua,uma pausa catando o seu lixo (objetos). Que será acoplado no próprio corpo (corpo Estamira). Após cumprir todas as ruas se posicionar na boca de cena de costas para o público e aguardar todos chegarem. Em seguida duas plataformas (uma vindo da esquerda e outra da direita no fundo do palco) se juntarão. É o sinal para que todos juntos pulem na plataforma (caminhão) fazendo a dança coreografada.
O corpo para o Espanca! assume em “REAL” não apenas uma função estética, mas também política. O que se faz notar nos 23º, 24º e 25º registros do processo, no qual os posts refletem sobre os conceitos de coreo-polícia e coreo-política, propostos por André Lepecki, sintetizados no post “ocupar o tempo para orientar o ritmo do espaço”:
“é que agrupamentos deslocam e ocupam o espaço de circulação. E assim ocupam o tempo também. E quem ocupa o tempo marca, determina e orienta o ritmo de cada espaço.”
“e aqui voltamos à concretude não metafórica do que a dança pode fazer politicamente: destrambelhar o sensório, rearticular o corpo, suas velocidades e afetos, ocupar o espaço proibido, dançar na contramão num chão rachado, difícil. É assim que ela cumpre a promessa coreo-política a que se propõe, quando ativada para a verdadeira ação”. (André Lepecki)
Todas essas questões apontadas até aqui aparecem sintetizadas em um dos últimos registros do processo, no qual as noções de política, estética, linguagem são contempladas a partir da experiência de um dos criadores ao assistir um vídeo de dança:
“Tem a força da presença de um corpo negro em cena, a leveza do figurino (tutu). A dança que é um misto de ballet, contemporâneo, dança-afro e a música que segue a mesma linha… cria uma tensão muito interessante (uma impressão que no final ela vai subir e virar um rap… e, mesmo que não aconteça, essa sugestão é muito interessante). Me lembrou o ensaio dos Garis de sexta que mesclava cenas de violência com a euforia de um coletivo de colegas se divertindo nos intervalos de trabalho, mas sempre com uma atmosfera performática porque estão na rua, com outras pessoas os assistindo. Ficou muito pra mim desde o início uma imagem do indivíduo e coletivo… achei massa pensar essas forças separadas. (…) O momento solo do Leandro é lindo também. Vendo esse vídeo que postei aqui, pensei se ele não pega uma roupa do lixo e veste para dançar. achei essa coreografia uma síntese dos nossos assuntos do REAL.”
MARÉ: PALAVRA É FLUXO, PALAVRA É MÚSICA!
Um fluxo. É assim que Marcio Abreu inicia a escrita de “Maré”, texto que teve como fato detonador a chacina ocorrida no Complexo da Maré, no Rio, em 2013, durante as “Jornadas de Junho”. O dramaturgo e diretor da Companhia Brasileira concebe seu texto como um fluxo de vozes de diferentes gerações, em que um mesmo instante é visto pelas perspectivas da vó, das crianças, do pai e da mulher. O texto, sem pontuações, diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, quebras ou divisões, tornando a palavra, como definiu Luciana Romagnolli, “indomada”.
É como se quem falasse não fosse a boca dos personagens, mas suas memórias/consciências. Os tempos também são indefinidos, cruzados, permeáveis: não se sabe se a situação sobre a qual se fala aconteceu ou se está acontecendo, possibilitando uma percepção distinta para cada leitor que sobre o texto se debruçar.
Em sua observação de uma tarde de ensaios a partir do material de Marcio Abreu, Luciana constata que “o ensaio estava dividido em três partes: a avó sozinha trabalhando em uma partitura corporal econômica e falando para si mesma; o casal testando danças a dois, como forró e bolero, enquanto falavam o texto, experimentando o ritmo da música no ritmo da fala; e as crianças jogando ‘stop’. Tudo isso sobreposto em um tablado tão pequeno quanto um barraco onde essa família se aperta”.
Em seu relato, Luciana explicita que o espaço exíguo é utilizado para juntar as camadas simultâneas de vozes/gerações que, no texto de Abreu, aparecem originalmente isoladas umas das outras. É como se, em sala de ensaio, os criadores buscassem embaralhar essas visões. E, entre as impressões que a afetaram, ela ressalta a “música como algo forte para estruturar a cena”.
A palavra e a música, ou a palavra como música, é um elemento fortemente marcado neste processo de criação, fato que se torna evidente na análise dos documentos de processo compartilhados pelo grupo. Uma das investigações presente no processo é a relação com o hip hop – dado que inevitavelmente demonstra a aproximação dos interesses do grupo com a realidade que o circunda à medida que o local em que está instalada sua sede é o mesmo em que acontece na cidade o Duelo de MCs.
No quinto registro de processo publicado, estão lá duas letras que foram trabalhadas em um workshop chamado “Palavra e Hip Hop”, com as seguintes questões: “letra ou texto? canto ou fala? exercícios de falar/cantar/recitar”. A investigação na construção de “Maré” parece consistir em como tornar a fala ritmo, e a palavra, som. “Maré é música”, diz outro post sobre a apropriação que Caetano Veloso faz de “Circuladô de Fulô”, poema de Haroldo de Campos. O jogo que se vem buscando em “Maré” é, mais do que ampliar as maneiras de se dizer, é abrir novas possibilidades de escuta.
(*) com a colaboração de Luciana Eastwood Romagnolli.
BIBLIOGRAFIA
ARAÚJO, Antonio. A Gênese da vertigem: o processo de criação de O Paraíso Perdido. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2011.
FÉRAL, Josette. Teatro, Teoría y Prática: Más Allá de las Fronteiras. Buenos Aires: Editorial Galerna, 2004.
______ Por uma Poética da Performatividade: o teatro performativo. IN: SALA PRETA, Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, Eca/USP, São Paulo, nº 8, 2008. (p. 197-210).
______ A Fabricação do Teatro. IN: Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, v. 3, n. 2, 2013. (p. 566-581).
FERNANDES, Sílvia. Performatividade e gênese da cena. Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, v. 3, n. 2, 2013. (p. 404-419).
[1] Essa reflexão é a base da minha dissertação de mestrado “O processual na cena contemporânea – práticas de criação e poéticas processuais que enfatizam o percurso e a experiência da Luna Lunera na criação de ‘Prazer’” .
[2] Parte dos registros de processo da criação do projeto “REAL: Teatro de Revista Política” vem sendo registrado pelo Espanca! no seu site, material aqui utilizado para consulta. Além disso, a autora conta com dados e percepções acumulados durante a observação de um dia de ensaio da nova obra (no dia 3 de agosto de 2015), assim como com os relatos e anotações de Luciana Eastwood Romagnolli, as quais me foram compartilhadas e são citadas. Além disso, também integra essa análise a leitura de três dos textos que integram o projeto: “Inquérito”, de Diogo Liberano; “O Todo e as Partes”, de Roberto Alvim; e “Maré”, de Marcio Abreu.
[3] Entrevista concedida a Soraya Belusi, no dia 23 de maio de 2013, na sede do Espanca!, e publicada no Horizonte da Cena. Observa-se que, nesta mesma conversa, consta o cerne do projeto de convidar cinco artistas-colaboradores para a criação simultânea de uma mesma obra, o que está sendo realizado de alguma maneira no REAL. Também nesta entrevista aparece a citação a Marcio Abreu e o desejo de parceria que agora se concretiza no projeto em andamento.
[4] Vídeo gravado no prédio da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro durante o horário de almoço dos garis Fábio Bomba e Augusto Paçoca.
Direção Geral: Gustavo Bones e Marcelo Castro
Coordenação de Produção: Aline Vila Real
Cenografia: Adriano Mattos, Ivie Zappellini e Grupo Arquitetura Tradução (Ana Cecília Souza, André Victor, Jéssica de Castro, Maria Soalheiro, Rita Davis)
Iluminação: Edimar Pinto
Figurino: Gustavo Bones e Helaine Freitas
Projeto Gráfico: Estúdio 45Jujubas
Fotos: Guto Muniz
Realização: Espanca!
Classificação: 16 anos
Duração: 120 min
*projeto selecionado pelo programa Rumos Itaú Cultural 2013-2015
Real estreou dia 19 de novembro de 2015, no Itaú Cultural, em São Paulo, SP.
2016
Agosto
– Circuito SESC-Santa Catarina: circulação por Itajaí, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Laguna, Rio do Sul e Chapecó, SC.
Julho
– Festival de Inverno da UFMG – Teatro Francisco Nunes. Belo Horizonte, MG.
Maio
– FIT-BH (Festival Internacional de Teatro Palco e Rua) – Teatro Francisco Nunes. Belo Horizonte, MG.
Janeiro
– VerãoArteContemporânea – curta temporada no Galpão Cine Horto. Belo Horizonte, MG.
2015
Dezembro
– Vaquinha + REAL – curta temporada no Galpão Cine Horto. Belo Horizonte, MG.
Novembro
– Estreia nacional: curta temporada no Itaú Cultural. São Paulo, SP.